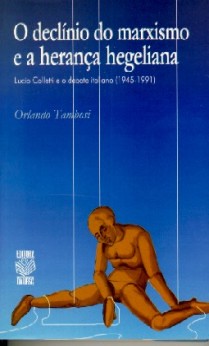O mundo ocidental vive no sistema judicial mais tolerante de sempre. A pena de morte foi banida da maior parte das sociedades democráticas, ou existe apenas como figura jurídica que nunca se aplica. Os movimentos contra a pena de morte ganharam a causa, a discussão acabou e vingou um certo senso comum que encara a pena de morte como um arcaísmo ultrapassado. Por tudo isto, não é de espantar que os argumentos contra a pena capital tenham adormecido à sombra da sua vitória.
Neste cenário bucólico caberia ao filósofo ultrapassar o senso comum e introduzir algum bom senso nesta matéria, recordando argumentos convincentes e recuperando a racionalidade do abolicionismo. Toda a gente ficaria satisfeita, inclusivamente o filósofo, e este seria o melhor dos mundos. Acontece, todavia, que isto não é assim. Bastam alguns momentos de reflexão para perceber que talvez o abolicionismo não seja tão fácil de defender como poderia parecer. E com mais um esforço podemos perceber que a pena de morte também não é facilmente defensável. Na verdade, bastam alguns momentos de reflexão para perceber que a justificação racional do castigo é um problema no mínimo intrincado.
Antes de prosseguir, devo esclarecer que não irei defender nem atacar a pena de morte para quem cometeu homicídio voluntário, nem mesmo premeditado. Quando nos dispomos a discutir a pena de morte, a reacção habitual é a de considerar que estamos a entender a sua aplicação aos homicidas. Não é isso, no entanto, que irei fazer. Esta discussão é prévia a essa outra. Saber a que casos se deve aplicar a pena de morte é uma discussão que só pode acontecer depois de se saber se a pena capital é eticamente defensável.
Assim, trata-se aqui de discutir a racionalidade da pena de morte em geral, ou da sua abolição. O que procuro saber é se existe pelo menos um caso em que estejamos dispostos a aceitar a pena de morte como eticamente defensável. Mas o ponto da discussão não é saber que caso é esse, mas se à partida, independentemente do caso, podemos defender ou não a pena de morte. Dito de outra forma, esta discussão vai no sentido de saber se podemos racionalmente abolir a pena de morte, por princípio, para todos os casos. Isto não significa, no entanto, que não usemos exemplos de casos, reais ou imaginados, para testar uma qualquer tese.
A discussão que se segue tem como horizonte próximo os artigos de A. Kostler, «The Folly of Capital Punishment» e E. van den Haag, «The Need For Capital Punishment». A discussão de Koestler e de van den Haag em torno da questão coloca-se no ponto de vista consequencialista: trata-se de saber, feito o cálculo final das vantagens e desvantagens, para onde pende o fiel da balança. Mas questão é discutida em termos ainda mais restritos: que efeito dissuasor tem a pena de morte? Koestler procura mostrar que não tem nenhum; Van den Haag procura mostrar que a questão é indecidível.
Os argumentos de Koestler são sobretudo de ordem histórica e factual: baseiam-se em estatísticas e em acontecimentos históricos. Os argumentos de Van den Haag são sobretudo lógicos e psicológicos: pretendem mostrar que as estatísticas não provam que a pena de morte não tem um efeito dissuasor, e que as pessoas em geral, e os criminosos em particular, são inconsciente ou conscientemente motivados por um cálculo consequencialista dos seus actos.
Devo agradecimentos a todas as pessoas que discutiram comigo este assunto. De algumas dessas conversas surgiram ideias que nunca teria tido sozinho.
2. O CÁLCULO DA DISSUASÃO
A discussão em torno do efeito dissuasor da pena de morte parece ganhar pontos a favor do abolicionismo. Antes de mais, o argumento histórico parece ser evidente por si mesmo. Quando a Inglaterra aboliu a pena capital para os casos de roubo, o roubo não só não aumentou como até parece ter decrescido. Este decréscimo, no entanto, é melhor argumento para aqueles que estão dispostos a argumentar contra a relevância das estatísticas. Na verdade, se não podemos aceitar que o crime por roubo aumente quando é penalizado com a pena de morte, também não podemos inferir, exactamente dos mesmos resultados, que ele diminui com a sua abolição. Se é estranho pensar que as pessoas roubam mais quando arriscam nisso a sua vida, também é estranho pensar que roubam menos quando não arriscam a vida. Assim, este decréscimo apenas serve os que afirmam a irrelevância das estatísticas.
No entanto, o argumento histórico estende-se aos inúmeros países que aboliram pura e simplesmente a pena de morte. Nestes países não se verificou nenhum aumento significativo da criminalidade, o que parece um bom argumento contra os que defendem a racionalidade da pena capital como elemento dissuasor. Assim, pareceria que condenar alguns criminosos à morte não traria nenhuma vantagem social, uma vez que não diminuiria o crime. Por outro lado, a possibilidade de erro judicial, que está sempre em aberto, aconselharia o abolicionismo. No cálculo geral das vantagens e das desvantagens, a pena capital ficaria a perder: não só não ajudaria a combater o crime, como poderia provocar algumas injustiças irreparáveis.
Quem defende a pena de morte em termos consequencialistas tem pois que negar as inferências que os abolicionistas retiram das estatísticas e da história. Estes argumentos têm que ser cautelosos, pois não podem permitir-se negar o valor geral das estatísticas, o que seria absurdo. Mas se concedermos a dúvida perante as estatísticas, então o argumento consequencialista é imediato: perante a incerteza do efeito dissuasor da pena de morte e perante a possibilidade do erro de justiça, a balança cai a favor do lado da pena de morte. Se condenarmos à morte não sabemos se estamos a salvar a vida de alguns inocentes (as possíveis vítimas do assassino dissuadido) ou não; temos a possibilidade de estar a salvar alguns inocentes e a possibilidade de cometer a injustiça de condenar a pessoa errada. Mas se não condenamos à morte não temos possibilidades de salvar os inocentes. Perante a certeza de nada fazer pelo bem social e a possibilidade de o fazer mas não o poder provar, a opção utilitarista é óbvia.
Será? Será assim tão óbvio? Se atentarmos um pouco mais verificamos que as coisas se complicam. Que acontece ao certo se não existir de facto nenhum efeito dissuasor na pena de morte? Acontece que temos a possibilidade de condenar uma pessoa inocente à morte. Ora, os erros jurídicos não são tão pouco frequentes como se desejaria que fossem. Estamos dispostos a arriscar a vida de inocentes em nome duma possibilidade dissuasória que pode não existir? Não podemos fazer como van Den Haag e declarar que entre a vida das futuras vítimas inocentes do assassino e a vida do condenado o cálculo do mal menor faz cair a escolha sobre o último. Em primeiro lugar, porque não podemos falar no plural num caso e no singular no outro porque estamos já a viciar os dados. Em segundo lugar, porque o que faz a diferença no caso do erro judicial é que o condenado é uma pessoa inocente. Assim, o cálculo não é tão claro como poderia parecer.
Chegados a este ponto, restaria discutir se vale a pena tentar negar o valor dos argumentos históricos e estatísticos. Por outro lado, os abolicionistas têm um argumento forte: imaginemos que se provava de forma clara que a pena de morte tinha um efeito dissuasor; aceitaríamos por isso condenar à morte. Mas, com os mesmos argumentos, não seríamos obrigados a aceitar a tortura caso se provasse o seu efeito dissuasor? Ou teríamos ainda a coragem de fazer o cálculo das vantagens e desvantagens? Quantos crimes seria necessário dissuadir para aceitarmos torturar um criminoso durante meia hora? Estas questões parecem mostrar que talvez o consequencialismo não seja o melhor ponto de partida para abordar este assunto.
3. O CÁLCULO DO CRIMINOSO
Por outro lado, a simples ideia de dissuasão talvez não seja muito clara. Podemos aceitar à primeira vista que as pessoas fazem uma espécie de cálculo da relação «vantagem obtida/risco possível» em alguns casos, como no das multas de estacionamento de automóveis. Mas é bizarro pensar que uma pessoa decida não cometer um crime grave, como um homicídio, porque faz o cálculo do risco que corre. Ou que decida não roubar um automóvel porque se arrisca a ser preso. Além de ser uma forma muito estranha de conceber o comportamento ético das pessoas, parece não tomar em consideração o bom senso que estas em geral têm. Por outro lado, se considerarmos que os criminosos, precisamente, não se regem pelo bom senso, não percebo como poderão fazer complicados cálculos utilitaristas.
Nenhuma pessoa com bom senso precisa da pena de morte para não cometer crimes graves, tal como nenhuma pessoa com bom senso precisa de multas elevadas para usar cinto de segurança no automóvel. Certamente que há pessoas irresponsáveis e aparentemente desprovidas de qualquer senso, e ainda menos do bom, mas duvido do alcance dissuasor das penalidades. O único alcance parece ser o de tornar essas pessoas ainda mais irresponsáveis, o que pode parecer irrelevante do ponto de vista consequencialista, mas não o é. De facto, o que se provoca é a propensão para que essas pessoas cometam transgressões à lei sempre que não estiverem a ser vigiadas. E mesmo que estejam a ser vigiadas, têm que o ser de uma forma constante. O automobilista sem bom senso faz 200 quilómetros sem cinto de segurança, e coloca-o apenas quando vê a polícia na estrada 200 metros à frente. Esta situação mostra que esse automobilista erra não só porque não toma a sua própria vida no cálculo que hipoteticamente fez, como erra ao pensar que tem tempo de pôr o cinto de segurança de cada vez que a polícia lhe surge na estrada.
Ora, quem vai cometer um crime grave começa por errar no cálculo primeiro sobre a possibilidade de ser apanhado e acaba por errar ao não perceber que é a sua vida que está em jogo. O resultado é que, se calcula de todo, calcula provavelmente mal. O efeito dissuasor é assim, se não nulo, pelo menos suficientemente ténue para não poder ser invocado como argumento a favor da pena de morte.
4. O CASTIGO
Procurei mostrar as dificuldades que se levantam se adoptamos o ponto de vista consequencialista e a ideia da dissuasão. A discussão, neste ponto, parece dar mais razão ao abolicionismo. Mas se abandonamos o ponto de vista consequencialista e a ideia da dissuasão, parece restar apenas o argumento que em geral se ouve sempre que se discute este assunto: o valor sem preço da vida humana. Acontece, porém que este argumento é pouco esclarecedor, se acaso é, de todo, um argumento. Na verdade, é costume os abolicionistas invocarem o valor da vida humana. Para eles o ponto em causa é que o criminoso é um ser humano e que, portanto, ninguém tem o direito de lhe tirar a vida.
Neste momento da discussão podemos perguntar se o ponto de vista de uma ética não consequencialista não oferecerá menos dúvidas. Neste caso basta alegar o princípio geral do valor da vida humana. No entanto, quem defende a pena de morte fá-lo exactamente porque preza a vida humana, nomeadamente, a vida dos inocentes que foram vítimas do criminoso. Se persistirmos numa ética não consequencialista e invocarmos o princípio mais geral de não matar seres humanos, então ficamos com os problemas que em geral se levantam nestas éticas e continuamos sem perceber qual é a racionalidade da nossa opção. Invocar um princípio geral que não é nada claro não clarifica nada.
Devemos talvez introduzir outro elemento além da dissuasão. A dissuasão não é certamente o nosso único objectivo no funcionamento dos tribunais. Se fosse, estaríamos dispostos a torturar os grandes criminosos se achássemos que isso podia evitar o crime. Deve portanto haver outros objectivos que pretendem ser alcançados quando condenamos alguém a uma pena qualquer.
Nos casos mais simples, faz-se justiça obrigando o ladrão a repor o que roubou. Mas não nos limitamos a fazer tal. Além disso ainda o condenamos, mesmo que a pena fique suspensa, a algum tempo de cativeiro. Porquê? Porque além de compensar a pessoa lesada pelo roubo, que é o mais elementar acto de justiça, estamos também interessados, para cumprir a justiça no seu aspecto mais completo, em castigar a pessoa que cometeu o crime. Qual é, no entanto, a racionalidade deste castigo?
5. CASTIGO E EDUCAÇÃO
Se castigar é unicamente a retribuição equilibrada de uma acção criminosa, então é difícil compreender a racionalidade do castigo. O arcaísmo «olho por olho, dente por dente» não parece fazer sentido; além de que ou é impraticável de facto ou conduz a injustiças óbvias. Não podemos prender um homem como Hitler e pretender retribuir-lhe o que ele fez nem podemos matar os filhos de um assassino que matou os filhos inocentes de um inocente cidadão. E ainda que estivéssemos preparados para tomar esta última opção, caso isso não implicasse uma óbvia injustiça, mesmo assim não teríamos conseguido qualquer tipo de retribuição racionalmente aceitável. O próprio facto da retribuição, só por si, não faz qualquer sentido: é pura vingança.
Neste ponto da discussão podemos interrogarmo-nos se, pura e simplesmente, o castigo fará sentido de todo em todo, isto é, se não será um arcaísmo que perdurou no tempo. Não será melhor pensar a justiça sem esse elemento arcaico? Esta é uma hipótese que estou disposto a aceitar, se me mostrarem que, nesse caso, ainda faz sentido falar de justiça. Ora, precisamente, tal não me parece possível. Todos concordarão que se nos limitarmos a exigir ao ladrão que reponha aquilo que roubou não estaremos a fazer justiça alguma. Exigimos castigo.
Podemos tentar compreender o castigo, sem cair em arcaísmos, admitindo que o seu sentido fundamental é a educação. Todos estamos dispostos a aceitar não só que faz sentido um pai castigar o seu filho, como esse castigo tem uma justa medida. Um pai castiga o seu filho de forma diferente quando este parte um objecto propositadamente, ou quando este decide bater no vizinho. Porquê? Porque o que está em causa é a educação do seu filho. O castigo tem o sentido positivo de lhe mostrar que existem coisas que não se devem fazer. E a sua aplicação só é justa se não perder o objectivo educativo de vista. O castigo deve ser proporcional face ao mal cometido.
Assim, podemos argumentar que a educação é o sentido do castigo. Como parece claro que a justiça não pode ser plenamente entendida sem o castigo, segue-se que nos casos em que a educação não é possível não podemos exercer justiça. Uma vez que os casos de pena capital ou prisão perpétua são precisamente, por princípio, casos de pessoas irrecuperáveis, não podemos tentar fazer justiça nesses casos, quer optemos pela primeira, quer optemos pela segunda pena. Estamos então condenados a conceber a justiça destes casos em termos de estrita dissuasão.
Mas se enveredamos pelo caminho da dissuasão não estamos já a pensar, verdadeiramente, em cumprir justiça. Estamos unicamente a tentar tirar o melhor partido possível de uma situação-limite. Mas usar a pena prescrita ao criminoso como dissuasão pode ser eticamente pouco defensável, se aceitarmos, como Kant, que no plano ético devemos tratar as pessoas como fins e não como meios. Mesmo que não aceitemos, à partida, a ideia de Kant, podemos ainda argumentar que tratar o criminoso como um meio para melhorar a sociedade é contraditório, uma vez que o criminoso pode sê-lo exactamente porque usou outras pessoas como meios para melhorar a sociedade, como é o caso dos terroristas políticos, ou como foi o caso de Estaline e de Hitler.
O que se passa é que a diferença é grande, uma vez que dum lado estão pessoas inocentes e do outro está um criminoso irrecuperável. Neste ponto da discussão poderíamos finalmente recolher as armas da argumentação e concluir que quando o criminoso é irrecuperável não há justiça possível. Neste caso restar-nos-ia reconstruir a discussão em torno do efeito dissuasor da pena de morte.
Acontece, porém, que há casos-limite em que não parecemos dispostos a aceitar o castigo como reeducação, mesmo que o criminoso seja recuperável. Por outro lado, podemos argumentar que não há, de facto, criminoso algum que seja irrecuperável. Mas estamos nós dispostos a devolver a liberdade a um homem como Hitler, depois de 10 ou mais anos de cativeiro, se soubermos que ele se tornou um distinto investigador em ética? Parece que não.
Recentemente, um grupo de veteranos franceses da guerra da Indochina descobriu com espanto que um dos conselheiros da guerrilha comunista, que torturava os seus prisioneiros de guerra, é agora um distinto professor na Sorbonne. Esse homem não só é hoje inofensivo, como pode até ser um bom investigador. Estamos dispostos a aceitar que o mesmo tivesse acontecido a Hitler ou Estaline, ou a um indivíduo que planeia com minúcia a morte de 10 funcionários de um banco para roubar dinheiro?
Estes casos parecem mostrar que não estamos dispostos a aceitar a recuperação de alguns criminosos, ainda que ela fosse possível. Mas se aceitarmos a ideia de que o castigo só tem sentido racional se tiver o objectivo de educar, parece que o sentido arcaico do castigo é inultrapassável, isto é, não estamos dispostos a cedê-lo nos casos-limite.
6. CONCLUSÃO
Que fazer então, nos casos-limite? Devemos condenar o criminoso a prisão perpétua com o argumento consequencialista de que a dissuasão pela pena de morte não funciona? Mas por que motivo não condenar à morte, se nestes casos, ainda que a reeducação fosse possível, não estamos dispostos a aceitá-la? A prisão perpétua parece ser apenas uma forma de indecisão: por um lado, não estamos dispostos a andar de metropolitano com um homem que matou milhões de pessoas inocentes, mas que foi castigado e recuperado; por outro também não queremos condená-lo à morte. Se não estamos dispostos a andar com ele no metropolitano, ainda que ele fique recuperado, parece mais coerente condená-lo à morte.
Desidério Murcho
20.10.08
20.4.08
Outra história
Uma mulher se levanta e diz: sou uma personagem e esta é uma história. E eu disse a ela: sim, você é uma personagem que assiste a tudo quieta e esta é uma história. Uma outra história.
O ar se adensa de sussurros das coisas acontecidas. Homens olham para o céu e mulheres zelam pelo fogo na lareira. No lar. Lá em cima estrelas, vapores, astros descomunais. Aqui em baixo explicações, encantamento, medo. Explicações, encantamento, medo: seres caóticos, no princípio, e no princípio era o adjetivo e não o verbo. O Pensamento Ordenador nasce do Espanto e o Espanto não tem origem: é a origem. E também não tem finalidade: é o fim. O Pensamento Ordenador pode ser bem direcionado e acabar retornando da sua longa viagem com uma imensa bagagem de presentes ao Espanto. Presentes reais, factuais, os quais o Espanto recebe com muito espanto. Mas pode acontecer também de o Pensamento Ordenador julgar-se o Fiat lux, a verdade e a vida. E o princípio, o fim e os meios. Aí não há caminho, só há sistema: fechado, perfeito e acabado.
O riso de uma mula poderia ser instrumento de um misterioso aviso? Havia quem relacionasse erradamente os dias e os fatos fazendo com que o raciocínio estacasse a altura dos ombros. Um homem é claro. Porque a mulher continua cuidando do fogo na lareira. No lar. Pressentimentos antecedem os grandes acontecimentos? Ou serão os fatos aparentemente inexplicáveis os geradores da crença atenuadora da angústia de que é possível guiar-se pelos pressentimentos?
Um homem, uma personagem que fala, a única que sempre fala, diz: Quando chegar os dias de chuva a terra poderá se alagar e o alagamento prejudicará as plantações. Antes falarmos disto. De certezas puras. Assim é que eu gosto. Só para dizer coisas acontecentes vale a pena abrir a boca. Sua mulher avivou o fogo na lareira. No lar. E sua boca disse uma quase palavra: ah...
A noite era um lastro de escuro, estrelas e sombras com vida própria. O homem diz: quero lhe contar uma história, mulher. A história do dia em que éramos um e tudo era perfeito. Não havia, então, nem falsas nem verdadeiras fantasias. Eu não havia, nem tu, nem nós, e as coisas também eram viúvas de seus nomes e se incendiavam eternamente sendo apenas o que eram sem os estremecimentos dos medos famintos de rótulos. Tudo era assim, até que você, maldita, você disse algo através desse seu nariz de vidro. E o mundo se estilhaçou em desunidades. E o dormir se tornou essa necessidade escura. E o acordar essa necessidade clara.
A mulher pensou em dizer amém, mas não disse nada. Ninguém deveria ter de engolir a própria vida, mas esse homem que conta histórias me leva a julgar que o silêncio, o meu silêncio, é a nossa salvação. E assim se aninhou nos braços dele, juntou os braços no regaço e sentiu que infinitas pedras iriam nascer no leito dos rios.
No dia seguinte a mulher voltou ao seu posto de silenciosa vigília ígnea e o homem a olhar o céu e também a terra. Descobriu que as nuvens soltavam pios de mar e chamou de chuva a esses pios que davam arrepio de frio. O mundo lavado o fez pensar que as palavras eram bonitas, mas que o mais das vezes o melhor era buscá-las no fundo das tripas e das fezes. A realidade é uma roda de gritos que é preciso medir e pesar. E devo ficar com tudo isso para oferecer a ninguém?
E nesta noite o homem contou outra história à mulher que insisto em chamar de silente.
Contou-lhe a história de uma caverna e de seres agrilhoados dentro dela. E disse que esses seres acreditavam que as sombras projetadas no fundo da caverna eram reais quando não passavam de imagens. E disse que ele heroicamente tinha tentado libertá-las de seus grilhões. A mulher soltou um suspiro de alívio pelos olhos enquanto pensava: desta vez não tive nada a ver com isso!
Não? O contador de histórias prosseguiu: sabe de onde vinham as sombras projetadas no fundo da caverna? De um pedaço de fogo roubado da sua lareira, mulher dos infernos, mulher do diabo! É você quem cria a possibilidade das sombras. Primeiro porque disse uma palavra através do seu nariz de vidro. Segundo porque cria a possibilidade da ilusão, do engodo, da sombra que é parida por meio do lume que você gesta.
Depois dessa segunda história a personagem mulher desistiu parcialmente do fogo e pôs-se a tecer um manto para o princípio do mundo se aquecer do frio e que desse voz encantada aos bichos ferozes e força à fúria dos elementos e faca ao sangue dos animais sacrificados. Teceu e bordou por cima do tecido uma cestinha, um rio, um menino heróico e uma princesa egípcia.
Nascia o trançado das histórias dentro da história. E o riso regalado de seres imaginariamente independentes. Se alguém levantar o dedo mindinho poderá tocar as nuvens. Faltam apenas rebordos dourados – iluminadas iluminuras - emoldurando as páginas da realidade. Mas ainda podemos ouvir, debaixo das telhas ou das lajes, o silêncio da mulher e o palrar do homem.
Por Maria do Espírito Santo Gontijo Canedo
O ar se adensa de sussurros das coisas acontecidas. Homens olham para o céu e mulheres zelam pelo fogo na lareira. No lar. Lá em cima estrelas, vapores, astros descomunais. Aqui em baixo explicações, encantamento, medo. Explicações, encantamento, medo: seres caóticos, no princípio, e no princípio era o adjetivo e não o verbo. O Pensamento Ordenador nasce do Espanto e o Espanto não tem origem: é a origem. E também não tem finalidade: é o fim. O Pensamento Ordenador pode ser bem direcionado e acabar retornando da sua longa viagem com uma imensa bagagem de presentes ao Espanto. Presentes reais, factuais, os quais o Espanto recebe com muito espanto. Mas pode acontecer também de o Pensamento Ordenador julgar-se o Fiat lux, a verdade e a vida. E o princípio, o fim e os meios. Aí não há caminho, só há sistema: fechado, perfeito e acabado.
O riso de uma mula poderia ser instrumento de um misterioso aviso? Havia quem relacionasse erradamente os dias e os fatos fazendo com que o raciocínio estacasse a altura dos ombros. Um homem é claro. Porque a mulher continua cuidando do fogo na lareira. No lar. Pressentimentos antecedem os grandes acontecimentos? Ou serão os fatos aparentemente inexplicáveis os geradores da crença atenuadora da angústia de que é possível guiar-se pelos pressentimentos?
Um homem, uma personagem que fala, a única que sempre fala, diz: Quando chegar os dias de chuva a terra poderá se alagar e o alagamento prejudicará as plantações. Antes falarmos disto. De certezas puras. Assim é que eu gosto. Só para dizer coisas acontecentes vale a pena abrir a boca. Sua mulher avivou o fogo na lareira. No lar. E sua boca disse uma quase palavra: ah...
A noite era um lastro de escuro, estrelas e sombras com vida própria. O homem diz: quero lhe contar uma história, mulher. A história do dia em que éramos um e tudo era perfeito. Não havia, então, nem falsas nem verdadeiras fantasias. Eu não havia, nem tu, nem nós, e as coisas também eram viúvas de seus nomes e se incendiavam eternamente sendo apenas o que eram sem os estremecimentos dos medos famintos de rótulos. Tudo era assim, até que você, maldita, você disse algo através desse seu nariz de vidro. E o mundo se estilhaçou em desunidades. E o dormir se tornou essa necessidade escura. E o acordar essa necessidade clara.
A mulher pensou em dizer amém, mas não disse nada. Ninguém deveria ter de engolir a própria vida, mas esse homem que conta histórias me leva a julgar que o silêncio, o meu silêncio, é a nossa salvação. E assim se aninhou nos braços dele, juntou os braços no regaço e sentiu que infinitas pedras iriam nascer no leito dos rios.
No dia seguinte a mulher voltou ao seu posto de silenciosa vigília ígnea e o homem a olhar o céu e também a terra. Descobriu que as nuvens soltavam pios de mar e chamou de chuva a esses pios que davam arrepio de frio. O mundo lavado o fez pensar que as palavras eram bonitas, mas que o mais das vezes o melhor era buscá-las no fundo das tripas e das fezes. A realidade é uma roda de gritos que é preciso medir e pesar. E devo ficar com tudo isso para oferecer a ninguém?
E nesta noite o homem contou outra história à mulher que insisto em chamar de silente.
Contou-lhe a história de uma caverna e de seres agrilhoados dentro dela. E disse que esses seres acreditavam que as sombras projetadas no fundo da caverna eram reais quando não passavam de imagens. E disse que ele heroicamente tinha tentado libertá-las de seus grilhões. A mulher soltou um suspiro de alívio pelos olhos enquanto pensava: desta vez não tive nada a ver com isso!
Não? O contador de histórias prosseguiu: sabe de onde vinham as sombras projetadas no fundo da caverna? De um pedaço de fogo roubado da sua lareira, mulher dos infernos, mulher do diabo! É você quem cria a possibilidade das sombras. Primeiro porque disse uma palavra através do seu nariz de vidro. Segundo porque cria a possibilidade da ilusão, do engodo, da sombra que é parida por meio do lume que você gesta.
Depois dessa segunda história a personagem mulher desistiu parcialmente do fogo e pôs-se a tecer um manto para o princípio do mundo se aquecer do frio e que desse voz encantada aos bichos ferozes e força à fúria dos elementos e faca ao sangue dos animais sacrificados. Teceu e bordou por cima do tecido uma cestinha, um rio, um menino heróico e uma princesa egípcia.
Nascia o trançado das histórias dentro da história. E o riso regalado de seres imaginariamente independentes. Se alguém levantar o dedo mindinho poderá tocar as nuvens. Faltam apenas rebordos dourados – iluminadas iluminuras - emoldurando as páginas da realidade. Mas ainda podemos ouvir, debaixo das telhas ou das lajes, o silêncio da mulher e o palrar do homem.
Por Maria do Espírito Santo Gontijo Canedo
17.4.08
Uma história
Un punto en el infinito universo, compuesto por infinitas galaxias , con infinitas estrellas en cada una de ellas, un punto que podría o no existir, según fuera el remolino de polvo que acompañó la formación del sol. Un punto con todas las probabilidades en contra ya que requiere muchas condiciones para existir. Pero existe.
Una escasa probabilidad de que un conjunto de moléculas inorgánicas se ensamblen de determinada manera, intercambien electrones, armen largas cadenas aptas para conectarse con átomos sueltos. La escasa probabilidad de que esas moléculas tengan una necesidad de replicarse, duplicarse repitiendo exactamente la misma estructura. Durante millones de años, una sopa orgánica esperó que el milagro se produzca. Lo más probable era que no lo hiciera, que no pasara nada y que la sopa se evaporara finalmente. Pero de algún modo, sucedió.
La vida nació y se mantuvo como ameba durante centenares de millones de años. Pero de pronto algo sucedió y la vida, en pocos millones de años, se manifestó en centenares de formas. Muchas perecían ante cualquier cambio del medio ambiente. Una de esas extinciones fue masiva: solo tres de cada cien especies sobrevivieron al cataclismo. Y así, sucesivamente: cada especie que eludía la muerte salía fortalecida y apta para una nueva etapa, en que probablemente, casi con seguridad sería abatida. Podía sobrevivir ésta o aquella: todo era casual, nada respondía a un Plan.
Las formas de vida triunfantes, hace cien millones de años , eran enormes reptiles que devoraban toda forma de vida menor: los dinosaurios diezmaban a los débiles mamíferos, al punto de que casi se extingue esa rama. Pero en algún momento, los dinosaurios también desaparecieron en un cataclismo, y llegó la hora de los mamíferos. Pero pudo no haber sido así.
El reino de los mamíferos fue el reino del cuidado del bebé, de la organización en grupos, del desarrollo de técnicas de caza o pastoreo , del aumento del cerebro. Su plasticidad le permitió dotarse de manos con dedos prensiles, ojos frontales, capacidad de comunicación, formación de grupos. Los primates evolucionaron hacia un proto-homínido, erguido, pequeño, débil pero inteligente que supo desafiar los peligros de leones y búfalos y nació allí la Humanidad. Pero ese milagro pudo haber terminado en los dientes de algún felino.
La humanidad se tomó dos o tres millones de años para elaborar herramientas, crecer su cerebro, ejecutar la más perfecta coordinación mano-cerebro, elaborar rituales grupales, estrategias de cría, alimentación, higiene, abrigo, defensa. Hace cien mil años , pequeños grupos emprendieron la conquista de los continentes, saliendo de su Africa natal. Podían haber sido devorados por animales o diezmados por virus, enfrentados en guerras interminables o en luchas internas para poseer a la mujer más hermosa o el adorno más lucido. Pero prefirieron organizarse en grupos bajo una autoridad fuerte, sujetos a tabues y reglas fijas, aterrorizados con la posibilidad de ser desterrados del grupo y morir en la soledad de la jungla. Armaron así sociedades rígidas en las que las reglas del grupo (su lengua, sus dioses, su brujo, sus modos de enterramiento) dictaban la conducta y el pensamiento de la gente. Asi, miles de años.
Hasta que algunos, audaces, rompieron el aislamiento y comenzaron a intercambiar regalos con los grupos vecinos, a fijar algunas reglas (no matar al extranjero que viene a comerciar, respetar los acuerdos) y a obtener valor de esos intercambios. Pronto el mundo se llenó de aventureros que navegaban y comerciaban , que conocían lugares y cosechas, vinos y aceites mejores, que obtenían ventajas, que podían así comprar vestidos mejores y ornatos para regalar a su mujer.
Los jefes , rápidamente se apropiaban de esos valores, establecían reglas, decretos, leyes, normas, reglamentos, timbres, sellos, impuestos, tasas, controles, excepciones, prohibían comerciar esto o aquello, prohibían comerciar con esos o los otros, mientras acumulaban oro y construian palacios y pirámides y monumentos y tumbas eternas. Eran Dios en la tierra, el Faraón , el Emperador persa.
Alguna vez , en algún lugar un pueblo pensó que el verdadero dios no era el faraón sino Alguien infinitamente más poderoso y sutil, alguien sin imagen y con presencia infinita. Su Poder disminuía el poder del Faraón. Por eso era revolucionario: la simple idea de un Dios único desarmaba el relato que sustentaba el poder terrenal del Faraón.
En otro lugar el poder se dispersaba en muchas ciudades-islas, discutidoras, comerciantes, creadoras de arte y literatura, de política y filosofía, de teatro y arquitectura. Y con una propiedad privada inviolable, a prueba de reyes y dictadores. Crearon la Democracia, un inédito modo de gobierno en el que el pueblo decidía en asamblea. Un milagro rodeado de Reyes –Dioses hostiles, que se las arregló para sobrevivir y ganarle al Persa, con Alejandro. Pero ese milagro podía no haber sido inventado.
Llegó entonces la apoteosis romana, el Estado: Derecho, literatura, arte militar, navegación, conquista, incorporación de pueblos diversos a una única matriz cultural básica. Poder, Arte, Paz, dominio. Casi un milenio de perduración.
La caída y dispersión del Imperio Romano creó un océano de pequeños poderes feudales, autónomos, aislacionistas, autistas, congelados, sin industria, sin comercio, solo Guerra y Religión. La peste, el hambre, la miseria, la ignorancia, la suciedad.
En esa tristeza, algunos insistían con la vieja tradición de los vendedores trashumantes: judíos, moros, gitanos comerciando aquí y allá, intercambiando pequeños bienes, trazando caminos, rompiendo fronteras y peajes, alumbrando historias, multiplicando los contactos, esparciendo conocimientos y canciones, rompiendo la monotonía de la aldea, trayendo valores nuevos.
Entonces los condes, y los obispos y los reyes comprimiendo, reprimiendo, controlando, tasando, encausando ese comercio mínimo. Entonces los gremios, las corporaciones, poniendo limites, exigiendo fidelidades, ahogando rebeldías, estableciendo rígidas reglas, encorsetando.
A escondidas, escapando de la mirada del obispo, algún buscador alquimista de oro comienza a investigar, a encontrar leyes en la materia, punto de ebullición, transformaciones de elementos, combinaciones, mezclas, diluciones, nuevas materias. Otros verán que los cuerpos tienen leyes, inercias, puntos de equilibrio, fuerzas. Otros observan los pájaros y su extrañas emigraciones, las abejas y su complejo orden, el ciclo de las estaciones, la creación de vida. Nace una proto ciencia. Pero podría no haber nacido nunca.
Perseguidas, estas gentes inquietas se juntan en cofradías, intercambian conocimientos y consejos. Y adquieren de a poco cierto prestigio y poder. Son llamados a las Cortes, son los médicos del Rey, los astrónomos, los que ayudan a la navegación. Los Reyes, ahora, tienen como dominar a los Nobles feudales: establecen un nuevo Poder, menor al del antiguo Emperador, pero efectivo. Limitado por Cartas magnas y por Fueros ciudadanos, pero activo, conspirando para unir a la nación, terminar con los peajes feudales y, sobre todo, recaudar impuestos para el enorme Estado que comienza a levantarse, con sus ejércitos, y cortes judiciales, y miles de empleados de aduanas, de correos, de empadronamientos, de impuestos.
Pero los comerciantes, industriales, pequeños y grandes burgueses agobiados por impuestos y tasas, por regulaciones y poderes del Soberano le ponen límites al Rey, en Inglaterra y más tarde en las Colonias. Allí nace la Constitución, las Asambleas parlamentarias, la división de poderes, el Federalismo, la libertad amparada por la constitución que reza "Que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y poseen determinados derechos inherentes de los que, una vez habiendo ingresado en el estado de sociedad, no pueden, bajo ningún pacto, ser privados o desposeídos en el futuro; a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer la propiedad, y perseguir y alcanzar la felicidad y la seguridad".
En Europa ese movimiento adquiere sutiles diferencias : comparte el ansia libertadora pero le infunde un "pathos" más poderoso: la fuerza de la Razón, la idealización del pensamiento libre, la conciencia de que un pensador puede cambiar el mundo con solo proponérselo. Nace una arrogancia nueva: no hay límites para la Diosa Razón. El resultado es el Terror de la Revolución Francesa, un efluvio evitable que marcó para siempre el camino de la violencia revolucionaria, o sea , el crimen justificado por la Causa Razonable.
Durante un siglo todo confluyó armoniosamente: la ciencia, el derecho, la democracia, el comercio, la industria, la medicina, la tecnología. El siglo XIX presenció el más formidable crecimiento de la Humanidad luego de centurias de aumento vegetativo. Un obrero que en 1800 solo podía comprar un unidad de algodón con una unidad de salario, 100 años después podia adquirir diez unidades de algodón con esa unidad de salario.
Pero el crecimiento del poder adquisitivo fue paralelo a la percepción de profundas desigualdades. Lo que en el regimen anterior permanecía oculto, perdido en el corazón rural de los feudos, lastimaba ahora la vista en la ciudades industriales. Jornadas extenuantes, salarios bajos, viviendas precarias. Hasta 1870 ese era el espectáculo. Tras ese desastre se escondía el germen del crecimiento y la igualación social, pero eso no se demostraría hasta mucho después. Por ahora esa injusticia clamaba al cielo y producía el Socialismo.
Peor: producía por primera vez una profunda desconfianza hacia cualquier forma de libertad económica, el alma del nuevo sistema. Por ello: El Estado, Bismark, las experiencias de control estatal de la producción , la glorificación del Plan, al servicio de la Nación, del Pueblo, de la Raza. Nacen los totalitarismos del siglo XX, amparados bajo influencia de los intelectuales constructivistas que creen que todo es planificable desde el Estado, que creen que conocen cuales son las fuerzas reales que organizan y transforman la sociedad humana, que poseen un programa de Felicidad y lo imponen a sangre y fuego.
Todo estalla en guerra durante medio siglo. Los totalitarismos generan cientos de millones de muertos, en el GULAG soviético, en los campos nazis, en las matanzas chinas, las hambrunas norcoreanas y camboyanas. La torpeza de Occidente genera otros desastres como Vietnam. Africa se descoloniza y de separa del resto del mundo. América Latina exacerba su nacionalismo y su retórica populista. Y al fin, el Islam despierta de sus siglos de latencia y estalla la seguridad.
Taiwan, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong demuestran que la libre circulación de capitales, la inversión en Educación, el cuidado de la Justicia, puede generar milagros económicos. En una generación se sale de la pobreza rural y se alcanza el estándar de vida más elevado. La mortalidad infantil baja del 40 a 4 por mil, en solo treinta años, en esos paises. Luego Chile, Nueva Zelandia, Irlanda, Estonia se suman al grupo de naciones emergentes que liberalizan las economías y la trasforman en focos de conexión con el mundo, alta tecnología, valor agregado, sueldos crecientes, desocupación en baja, mejoras en educación, salud, justicia, seguridad. Son modelos que se muestran, planteando nuevas alternativas al mundo en desarrollo.
Malasia, Tailandia, Indonesia y sobre todo India y China se sacan de encima las trabas y liberalizan sus economías, produciendo la Revolución Asiatica en marcha: capitalismo practico, veloz, creativo, aun encorsetado en regímenes dictatoriales como en China o Vietnam, pero desatando fuerzas imparables que transformaran pronto la libertad económica en libertad política.
La historia muestra que la llama a veces tiembla y parece apagarse, pero por sobre la mirada de los inquisidores, de los dictadores, de los nazis, stalinistas, leninistas, castristas, maoístas, fascistas, nacionalistas, aristocratizantes o populistas , de los violentos, los fundamentalistas, los integristas, los tradicionalistas, los conservadores, los revolucionarios, los iluminados, los predestinados, los caudillos, los jefes, líderes, conductores, fuhrers, los curas, rabinos e imanes fanatizados, rígidos, por sobre los amables redistribucionistas de dinero ajeno , por sobre los científicos que se creen destinados también a conducir a la Humanidad, a pesar de todos los Filósofos que creyeron encontrar La Explicación del mundo, a pesar de iluministas de la "voluntad general", de utopistas, de planificadores, de ingenieros sociales, a pesar de tantas amenazas, restricciones, condicionamientos, persecuciones, descalificaciones, a pesar de todo eso la llama de la ciencia, de la libertad, de la creatividad, el arte, del libre intercambio, de la democracia política , de la justicia, del estado de derecho, del control del gobierno por los ciudadanos, de los monopolios por los consumidores, a pesar de todo eso, quizás esa llama no se apague. Esa es la única esperanza.
Por Esteban Lijalad (Blog Monología).
Una escasa probabilidad de que un conjunto de moléculas inorgánicas se ensamblen de determinada manera, intercambien electrones, armen largas cadenas aptas para conectarse con átomos sueltos. La escasa probabilidad de que esas moléculas tengan una necesidad de replicarse, duplicarse repitiendo exactamente la misma estructura. Durante millones de años, una sopa orgánica esperó que el milagro se produzca. Lo más probable era que no lo hiciera, que no pasara nada y que la sopa se evaporara finalmente. Pero de algún modo, sucedió.
La vida nació y se mantuvo como ameba durante centenares de millones de años. Pero de pronto algo sucedió y la vida, en pocos millones de años, se manifestó en centenares de formas. Muchas perecían ante cualquier cambio del medio ambiente. Una de esas extinciones fue masiva: solo tres de cada cien especies sobrevivieron al cataclismo. Y así, sucesivamente: cada especie que eludía la muerte salía fortalecida y apta para una nueva etapa, en que probablemente, casi con seguridad sería abatida. Podía sobrevivir ésta o aquella: todo era casual, nada respondía a un Plan.
Las formas de vida triunfantes, hace cien millones de años , eran enormes reptiles que devoraban toda forma de vida menor: los dinosaurios diezmaban a los débiles mamíferos, al punto de que casi se extingue esa rama. Pero en algún momento, los dinosaurios también desaparecieron en un cataclismo, y llegó la hora de los mamíferos. Pero pudo no haber sido así.
El reino de los mamíferos fue el reino del cuidado del bebé, de la organización en grupos, del desarrollo de técnicas de caza o pastoreo , del aumento del cerebro. Su plasticidad le permitió dotarse de manos con dedos prensiles, ojos frontales, capacidad de comunicación, formación de grupos. Los primates evolucionaron hacia un proto-homínido, erguido, pequeño, débil pero inteligente que supo desafiar los peligros de leones y búfalos y nació allí la Humanidad. Pero ese milagro pudo haber terminado en los dientes de algún felino.
La humanidad se tomó dos o tres millones de años para elaborar herramientas, crecer su cerebro, ejecutar la más perfecta coordinación mano-cerebro, elaborar rituales grupales, estrategias de cría, alimentación, higiene, abrigo, defensa. Hace cien mil años , pequeños grupos emprendieron la conquista de los continentes, saliendo de su Africa natal. Podían haber sido devorados por animales o diezmados por virus, enfrentados en guerras interminables o en luchas internas para poseer a la mujer más hermosa o el adorno más lucido. Pero prefirieron organizarse en grupos bajo una autoridad fuerte, sujetos a tabues y reglas fijas, aterrorizados con la posibilidad de ser desterrados del grupo y morir en la soledad de la jungla. Armaron así sociedades rígidas en las que las reglas del grupo (su lengua, sus dioses, su brujo, sus modos de enterramiento) dictaban la conducta y el pensamiento de la gente. Asi, miles de años.
Hasta que algunos, audaces, rompieron el aislamiento y comenzaron a intercambiar regalos con los grupos vecinos, a fijar algunas reglas (no matar al extranjero que viene a comerciar, respetar los acuerdos) y a obtener valor de esos intercambios. Pronto el mundo se llenó de aventureros que navegaban y comerciaban , que conocían lugares y cosechas, vinos y aceites mejores, que obtenían ventajas, que podían así comprar vestidos mejores y ornatos para regalar a su mujer.
Los jefes , rápidamente se apropiaban de esos valores, establecían reglas, decretos, leyes, normas, reglamentos, timbres, sellos, impuestos, tasas, controles, excepciones, prohibían comerciar esto o aquello, prohibían comerciar con esos o los otros, mientras acumulaban oro y construian palacios y pirámides y monumentos y tumbas eternas. Eran Dios en la tierra, el Faraón , el Emperador persa.
Alguna vez , en algún lugar un pueblo pensó que el verdadero dios no era el faraón sino Alguien infinitamente más poderoso y sutil, alguien sin imagen y con presencia infinita. Su Poder disminuía el poder del Faraón. Por eso era revolucionario: la simple idea de un Dios único desarmaba el relato que sustentaba el poder terrenal del Faraón.
En otro lugar el poder se dispersaba en muchas ciudades-islas, discutidoras, comerciantes, creadoras de arte y literatura, de política y filosofía, de teatro y arquitectura. Y con una propiedad privada inviolable, a prueba de reyes y dictadores. Crearon la Democracia, un inédito modo de gobierno en el que el pueblo decidía en asamblea. Un milagro rodeado de Reyes –Dioses hostiles, que se las arregló para sobrevivir y ganarle al Persa, con Alejandro. Pero ese milagro podía no haber sido inventado.
Llegó entonces la apoteosis romana, el Estado: Derecho, literatura, arte militar, navegación, conquista, incorporación de pueblos diversos a una única matriz cultural básica. Poder, Arte, Paz, dominio. Casi un milenio de perduración.
La caída y dispersión del Imperio Romano creó un océano de pequeños poderes feudales, autónomos, aislacionistas, autistas, congelados, sin industria, sin comercio, solo Guerra y Religión. La peste, el hambre, la miseria, la ignorancia, la suciedad.
En esa tristeza, algunos insistían con la vieja tradición de los vendedores trashumantes: judíos, moros, gitanos comerciando aquí y allá, intercambiando pequeños bienes, trazando caminos, rompiendo fronteras y peajes, alumbrando historias, multiplicando los contactos, esparciendo conocimientos y canciones, rompiendo la monotonía de la aldea, trayendo valores nuevos.
Entonces los condes, y los obispos y los reyes comprimiendo, reprimiendo, controlando, tasando, encausando ese comercio mínimo. Entonces los gremios, las corporaciones, poniendo limites, exigiendo fidelidades, ahogando rebeldías, estableciendo rígidas reglas, encorsetando.
A escondidas, escapando de la mirada del obispo, algún buscador alquimista de oro comienza a investigar, a encontrar leyes en la materia, punto de ebullición, transformaciones de elementos, combinaciones, mezclas, diluciones, nuevas materias. Otros verán que los cuerpos tienen leyes, inercias, puntos de equilibrio, fuerzas. Otros observan los pájaros y su extrañas emigraciones, las abejas y su complejo orden, el ciclo de las estaciones, la creación de vida. Nace una proto ciencia. Pero podría no haber nacido nunca.
Perseguidas, estas gentes inquietas se juntan en cofradías, intercambian conocimientos y consejos. Y adquieren de a poco cierto prestigio y poder. Son llamados a las Cortes, son los médicos del Rey, los astrónomos, los que ayudan a la navegación. Los Reyes, ahora, tienen como dominar a los Nobles feudales: establecen un nuevo Poder, menor al del antiguo Emperador, pero efectivo. Limitado por Cartas magnas y por Fueros ciudadanos, pero activo, conspirando para unir a la nación, terminar con los peajes feudales y, sobre todo, recaudar impuestos para el enorme Estado que comienza a levantarse, con sus ejércitos, y cortes judiciales, y miles de empleados de aduanas, de correos, de empadronamientos, de impuestos.
Pero los comerciantes, industriales, pequeños y grandes burgueses agobiados por impuestos y tasas, por regulaciones y poderes del Soberano le ponen límites al Rey, en Inglaterra y más tarde en las Colonias. Allí nace la Constitución, las Asambleas parlamentarias, la división de poderes, el Federalismo, la libertad amparada por la constitución que reza "Que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y poseen determinados derechos inherentes de los que, una vez habiendo ingresado en el estado de sociedad, no pueden, bajo ningún pacto, ser privados o desposeídos en el futuro; a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer la propiedad, y perseguir y alcanzar la felicidad y la seguridad".
En Europa ese movimiento adquiere sutiles diferencias : comparte el ansia libertadora pero le infunde un "pathos" más poderoso: la fuerza de la Razón, la idealización del pensamiento libre, la conciencia de que un pensador puede cambiar el mundo con solo proponérselo. Nace una arrogancia nueva: no hay límites para la Diosa Razón. El resultado es el Terror de la Revolución Francesa, un efluvio evitable que marcó para siempre el camino de la violencia revolucionaria, o sea , el crimen justificado por la Causa Razonable.
Durante un siglo todo confluyó armoniosamente: la ciencia, el derecho, la democracia, el comercio, la industria, la medicina, la tecnología. El siglo XIX presenció el más formidable crecimiento de la Humanidad luego de centurias de aumento vegetativo. Un obrero que en 1800 solo podía comprar un unidad de algodón con una unidad de salario, 100 años después podia adquirir diez unidades de algodón con esa unidad de salario.
Pero el crecimiento del poder adquisitivo fue paralelo a la percepción de profundas desigualdades. Lo que en el regimen anterior permanecía oculto, perdido en el corazón rural de los feudos, lastimaba ahora la vista en la ciudades industriales. Jornadas extenuantes, salarios bajos, viviendas precarias. Hasta 1870 ese era el espectáculo. Tras ese desastre se escondía el germen del crecimiento y la igualación social, pero eso no se demostraría hasta mucho después. Por ahora esa injusticia clamaba al cielo y producía el Socialismo.
Peor: producía por primera vez una profunda desconfianza hacia cualquier forma de libertad económica, el alma del nuevo sistema. Por ello: El Estado, Bismark, las experiencias de control estatal de la producción , la glorificación del Plan, al servicio de la Nación, del Pueblo, de la Raza. Nacen los totalitarismos del siglo XX, amparados bajo influencia de los intelectuales constructivistas que creen que todo es planificable desde el Estado, que creen que conocen cuales son las fuerzas reales que organizan y transforman la sociedad humana, que poseen un programa de Felicidad y lo imponen a sangre y fuego.
Todo estalla en guerra durante medio siglo. Los totalitarismos generan cientos de millones de muertos, en el GULAG soviético, en los campos nazis, en las matanzas chinas, las hambrunas norcoreanas y camboyanas. La torpeza de Occidente genera otros desastres como Vietnam. Africa se descoloniza y de separa del resto del mundo. América Latina exacerba su nacionalismo y su retórica populista. Y al fin, el Islam despierta de sus siglos de latencia y estalla la seguridad.
Taiwan, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong demuestran que la libre circulación de capitales, la inversión en Educación, el cuidado de la Justicia, puede generar milagros económicos. En una generación se sale de la pobreza rural y se alcanza el estándar de vida más elevado. La mortalidad infantil baja del 40 a 4 por mil, en solo treinta años, en esos paises. Luego Chile, Nueva Zelandia, Irlanda, Estonia se suman al grupo de naciones emergentes que liberalizan las economías y la trasforman en focos de conexión con el mundo, alta tecnología, valor agregado, sueldos crecientes, desocupación en baja, mejoras en educación, salud, justicia, seguridad. Son modelos que se muestran, planteando nuevas alternativas al mundo en desarrollo.
Malasia, Tailandia, Indonesia y sobre todo India y China se sacan de encima las trabas y liberalizan sus economías, produciendo la Revolución Asiatica en marcha: capitalismo practico, veloz, creativo, aun encorsetado en regímenes dictatoriales como en China o Vietnam, pero desatando fuerzas imparables que transformaran pronto la libertad económica en libertad política.
La historia muestra que la llama a veces tiembla y parece apagarse, pero por sobre la mirada de los inquisidores, de los dictadores, de los nazis, stalinistas, leninistas, castristas, maoístas, fascistas, nacionalistas, aristocratizantes o populistas , de los violentos, los fundamentalistas, los integristas, los tradicionalistas, los conservadores, los revolucionarios, los iluminados, los predestinados, los caudillos, los jefes, líderes, conductores, fuhrers, los curas, rabinos e imanes fanatizados, rígidos, por sobre los amables redistribucionistas de dinero ajeno , por sobre los científicos que se creen destinados también a conducir a la Humanidad, a pesar de todos los Filósofos que creyeron encontrar La Explicación del mundo, a pesar de iluministas de la "voluntad general", de utopistas, de planificadores, de ingenieros sociales, a pesar de tantas amenazas, restricciones, condicionamientos, persecuciones, descalificaciones, a pesar de todo eso la llama de la ciencia, de la libertad, de la creatividad, el arte, del libre intercambio, de la democracia política , de la justicia, del estado de derecho, del control del gobierno por los ciudadanos, de los monopolios por los consumidores, a pesar de todo eso, quizás esa llama no se apague. Esa es la única esperanza.
Por Esteban Lijalad (Blog Monología).
21.1.08
A "tempestade" de 1968
"Substituição da representação política, a assembléia foi, como momento decisional e encarnação dos anseios de participação direta, um dos mitos dos anos 60, de início embalados pelos movimentos estudantis. Ocupação de escolas e universidades, contestação dos exames e das próprias lições, análise do estudante como "força de trabalho" - eis alguns dos pontos do 68 italiano e francês: o que não fosse direto era, em definitivo, autoritário.
Jovens intelectuais, sindicalistas e estudantes que exerceriam grande influência nesse período tinham se formado no discurso de revistas e livros radicais dos anos precedentes. Paris, Roma, Milão, Berlim: eram uníssonas as vozes contra o imperialismo, fenômeno internacional que só podia ser combatido pela união dos povos do Terceiro Mundo e dos países de capitalismo avançado. Criar um Vietnã em cada escola, em cada fábrica, mais que um mero slogan, se tornaria uma proposta política. A palavra de ordem era a revolução; seus inspiradores, Che Guevara, Ho-Chi-Min, Mao.
"Criar dois, três, muitos Vietnãs" - era justamente o título do último escrito de Guevara (morto em outubro de 1967 na Bolívia, tentando abrir uma nova frente de luta armada na América Latina). O inimigo era um só: o imperialismo. "Os povos de três continentes" - dizia Guevara - "observam e aprendem a lição do Vietnã.(...) A América, continente esquecido pelas últimas lutas políticas de libertação, terá um confronto muito mais importante: o da criação do segundo e do terceiro Vietnã do mundo.(...) É preciso definitivamente levar em conta que o imperialismo é um sistema mundial, última etapa do Capitalismo, e que é preciso batê-lo num grande combate mundial. O objetivo estratégico dessa luta deve ser a destruição do imperialismo". E conclui o Che: "A parte que nos toca, explorados e subdesenvolvidos do mundo, é a de eliminar as bases de subsistência do imperialismo"[1].
O comunismo, à luz das experiências cubana e chinesa (e das reflexões que sobre elas desenvolveram muitos intelectuais europeus), não era mais apenas um horizonte: parecia um objetivo próximo. Destruição do Estado burguês, superação do parlamentarismo e da democracia representativa, abolição da "divisão do trabalho" - quando não do próprio -, pareciam realizáveis já.
Não demonstrava, a experiência chinesa, a possibilidade de alcançar o "comunismo" também nos países atrasados? Desaparecia assim a diferença entre cidade e campo, trabalho intelectual e manual (não era exemplo disto a transferência em massa dos estudantes às comunas agrícolas?). Caía por terra o "economicismo" soviético. A "revolução cultural" maoísta colocara sob acusação a sociedade industrial. Afirmava-se o primado da Política sobre a Economia: o processo revolucionário era total e ininterrupto. Nada de "reformismo".
Mas o Maio francês não foi apenas um episódio do movimento estudantil. Foi o estopim de uma gigantesca greve geral, envolvendo, além de operários, os técnicos, os funcionários, as classes médias. E, mais que tudo, acendeu novamente as esperanças de uma revolução no Ocidente. A velha teoria do "sujeito revolucionário"[2] deveria, no mínimo, ser revista.
Se o Maio não resultou em nada, isto se devia particularmente ao Partido Comunista Francês. Eram graves as suas responsabilidades: não só renunciara - segundo os movimentos de extrema-esquerda - a dar um sentido revolucionário às lutas, que contavam com a "mobilização espontânea" e a "combatividade" da maioria dos trabalhadores, mas atuara, no fundo, para que De Gaulle retomasse o controle da situação.
Sweezy ilustrou bem, nas páginas da Monthly Review, o pensamento das esquerdas: "Nenhum partido de massa que atue no interior da estrutura das instituições burguesas pode ao mesmo tempo ser revolucionário". Isto porque "aqueles que detêm cargos no Parlamento burguês, nas câmaras municipais, etc., habituam-se a considerar os problemas em termos burgueses; os quadros de partido ganham a vida entrando no jogo das eleições políticas burguesas; os funcionários sindicais e os membros das comissões internas mantêm seus cargos, e seu trabalho é apreciado, na medida em que ajudam os trabalhadores a obter concessões dos capitalistas". Conclusão: um partido desse gênero - "chame-se ele comunista, socialista ou trabalhista - é, por sua própria natureza, não revolucionário e reformista"[3].
Não se deveria, portanto, buscar a causa do comportamento do PCF apenas nos "defeitos da direção" partidária. Os grupos da "Nova Esquerda" já tinham identificado a causa na própria concepção leninista de partido como vanguarda organizada, altamente disciplinada e detentora da "direção revolucionária". Ora, nas novas condições, esse partido não podia - exatamente pelo centralismo e pela rigidez de sua estrutura - desenvolver a função de guia, já que a situação se caracterizava por um alto grau de "espontaneidade" e "criatividade" dos movimentos sociais[4].
Resumindo: a cultura do 68 significou o repúdio do reformismo e a utopia da "regeneração total" da sociedade. Afinal - acreditava-se -, a "revolução cultural" chinesa indicava a possibilidade dessa regeneração hic et nunc. Mas o que essa cultura disseminou com mais força foi uma posição radicalmente anticientífica e antiindustrialista. Não se tratava, por certo, de uma originalidade da "Nova Esquerda". Seus inspiradores haviam desenvolvido esses temas muitos anos antes: a maior parte dos escritos que se tornariam verdadeiros "manifestos filosóficos" dessa cultura surgira, de fato, nos anos 30 e 40. Era o patrimônio da chamada Escola de Frankfurt: Horkheimer, Adorno e, principalmente, Marcuse[5] (um dos três grandes M - como destacava a crônica da época -, junto com Marx e Mao[6]). O leitmotiv era a rejeição da "razão instrumental" e de seu corolário, a "sociedade tecnológica", i. é, a sociedade moderna. A bem da verdade, temas já suscitados por História e consciência de classe, de Lukács (uma obra de 1923, mas traduzida na Itália somente em 67)[7]. "
***
[1]Che Guevara, cit. por S. Dalmasso, Il caso "Manifesto" e il PCI degli anni'60, cit., pág. 44.
[2]Sobre este ponto, ver "Le ideologie dal'68 a oggi", de L. Colletti, in TI, cit., pág. 5 e segs. (O ensaio foi originalmente publicado na obra coletiva Dal'68 a oggi. Come siamo e come eravamo, Roma-Bari, Laterza, 1979).
[3]L. Huberman e P. M. Sweezy, "Riflessioni sul maggio francese", Monthly Review 10(1968), cit. por Colletti, op. cit., pág. 27.
[4]Cf. L. Colletti, ibid., págs. 27-8.
[5]Dialética do Iluminismo, de Adorno/Horkheimer, é de 1947; Razão e revolução, de Marcuse, é de 1941; apenas O homem unidimensional, o célebre livro de Marcuse que obteve sucesso mundial, é mais recente: 1964. (Na Itália, essas obras foram traduzidas justamente nos anos 60).
[6]Cf. L. Colletti, op. cit., pág. 30.
[7]Ver, a propósito deste tema, dois interessantes estudos de G. Bedeschi, que retoma idéias de Colletti: Introduzione a Lukács, e Introduzione alla Scuola di Francoforte, ambos edits. pela Laterza, Roma-Bari, 1982, 2a. ed., e 1987, 2a. ed., respectivamente."
(Trecho do livro O declínio do marxismo e a herança hegeliana, de Orlando Tambosi, Florianópolis, Edit. da UFSC, 1999, págs. 122-126).
Jovens intelectuais, sindicalistas e estudantes que exerceriam grande influência nesse período tinham se formado no discurso de revistas e livros radicais dos anos precedentes. Paris, Roma, Milão, Berlim: eram uníssonas as vozes contra o imperialismo, fenômeno internacional que só podia ser combatido pela união dos povos do Terceiro Mundo e dos países de capitalismo avançado. Criar um Vietnã em cada escola, em cada fábrica, mais que um mero slogan, se tornaria uma proposta política. A palavra de ordem era a revolução; seus inspiradores, Che Guevara, Ho-Chi-Min, Mao.
"Criar dois, três, muitos Vietnãs" - era justamente o título do último escrito de Guevara (morto em outubro de 1967 na Bolívia, tentando abrir uma nova frente de luta armada na América Latina). O inimigo era um só: o imperialismo. "Os povos de três continentes" - dizia Guevara - "observam e aprendem a lição do Vietnã.(...) A América, continente esquecido pelas últimas lutas políticas de libertação, terá um confronto muito mais importante: o da criação do segundo e do terceiro Vietnã do mundo.(...) É preciso definitivamente levar em conta que o imperialismo é um sistema mundial, última etapa do Capitalismo, e que é preciso batê-lo num grande combate mundial. O objetivo estratégico dessa luta deve ser a destruição do imperialismo". E conclui o Che: "A parte que nos toca, explorados e subdesenvolvidos do mundo, é a de eliminar as bases de subsistência do imperialismo"[1].
O comunismo, à luz das experiências cubana e chinesa (e das reflexões que sobre elas desenvolveram muitos intelectuais europeus), não era mais apenas um horizonte: parecia um objetivo próximo. Destruição do Estado burguês, superação do parlamentarismo e da democracia representativa, abolição da "divisão do trabalho" - quando não do próprio -, pareciam realizáveis já.
Não demonstrava, a experiência chinesa, a possibilidade de alcançar o "comunismo" também nos países atrasados? Desaparecia assim a diferença entre cidade e campo, trabalho intelectual e manual (não era exemplo disto a transferência em massa dos estudantes às comunas agrícolas?). Caía por terra o "economicismo" soviético. A "revolução cultural" maoísta colocara sob acusação a sociedade industrial. Afirmava-se o primado da Política sobre a Economia: o processo revolucionário era total e ininterrupto. Nada de "reformismo".
Mas o Maio francês não foi apenas um episódio do movimento estudantil. Foi o estopim de uma gigantesca greve geral, envolvendo, além de operários, os técnicos, os funcionários, as classes médias. E, mais que tudo, acendeu novamente as esperanças de uma revolução no Ocidente. A velha teoria do "sujeito revolucionário"[2] deveria, no mínimo, ser revista.
Se o Maio não resultou em nada, isto se devia particularmente ao Partido Comunista Francês. Eram graves as suas responsabilidades: não só renunciara - segundo os movimentos de extrema-esquerda - a dar um sentido revolucionário às lutas, que contavam com a "mobilização espontânea" e a "combatividade" da maioria dos trabalhadores, mas atuara, no fundo, para que De Gaulle retomasse o controle da situação.
Sweezy ilustrou bem, nas páginas da Monthly Review, o pensamento das esquerdas: "Nenhum partido de massa que atue no interior da estrutura das instituições burguesas pode ao mesmo tempo ser revolucionário". Isto porque "aqueles que detêm cargos no Parlamento burguês, nas câmaras municipais, etc., habituam-se a considerar os problemas em termos burgueses; os quadros de partido ganham a vida entrando no jogo das eleições políticas burguesas; os funcionários sindicais e os membros das comissões internas mantêm seus cargos, e seu trabalho é apreciado, na medida em que ajudam os trabalhadores a obter concessões dos capitalistas". Conclusão: um partido desse gênero - "chame-se ele comunista, socialista ou trabalhista - é, por sua própria natureza, não revolucionário e reformista"[3].
Não se deveria, portanto, buscar a causa do comportamento do PCF apenas nos "defeitos da direção" partidária. Os grupos da "Nova Esquerda" já tinham identificado a causa na própria concepção leninista de partido como vanguarda organizada, altamente disciplinada e detentora da "direção revolucionária". Ora, nas novas condições, esse partido não podia - exatamente pelo centralismo e pela rigidez de sua estrutura - desenvolver a função de guia, já que a situação se caracterizava por um alto grau de "espontaneidade" e "criatividade" dos movimentos sociais[4].
Resumindo: a cultura do 68 significou o repúdio do reformismo e a utopia da "regeneração total" da sociedade. Afinal - acreditava-se -, a "revolução cultural" chinesa indicava a possibilidade dessa regeneração hic et nunc. Mas o que essa cultura disseminou com mais força foi uma posição radicalmente anticientífica e antiindustrialista. Não se tratava, por certo, de uma originalidade da "Nova Esquerda". Seus inspiradores haviam desenvolvido esses temas muitos anos antes: a maior parte dos escritos que se tornariam verdadeiros "manifestos filosóficos" dessa cultura surgira, de fato, nos anos 30 e 40. Era o patrimônio da chamada Escola de Frankfurt: Horkheimer, Adorno e, principalmente, Marcuse[5] (um dos três grandes M - como destacava a crônica da época -, junto com Marx e Mao[6]). O leitmotiv era a rejeição da "razão instrumental" e de seu corolário, a "sociedade tecnológica", i. é, a sociedade moderna. A bem da verdade, temas já suscitados por História e consciência de classe, de Lukács (uma obra de 1923, mas traduzida na Itália somente em 67)[7]. "
***
[1]Che Guevara, cit. por S. Dalmasso, Il caso "Manifesto" e il PCI degli anni'60, cit., pág. 44.
[2]Sobre este ponto, ver "Le ideologie dal'68 a oggi", de L. Colletti, in TI, cit., pág. 5 e segs. (O ensaio foi originalmente publicado na obra coletiva Dal'68 a oggi. Come siamo e come eravamo, Roma-Bari, Laterza, 1979).
[3]L. Huberman e P. M. Sweezy, "Riflessioni sul maggio francese", Monthly Review 10(1968), cit. por Colletti, op. cit., pág. 27.
[4]Cf. L. Colletti, ibid., págs. 27-8.
[5]Dialética do Iluminismo, de Adorno/Horkheimer, é de 1947; Razão e revolução, de Marcuse, é de 1941; apenas O homem unidimensional, o célebre livro de Marcuse que obteve sucesso mundial, é mais recente: 1964. (Na Itália, essas obras foram traduzidas justamente nos anos 60).
[6]Cf. L. Colletti, op. cit., pág. 30.
[7]Ver, a propósito deste tema, dois interessantes estudos de G. Bedeschi, que retoma idéias de Colletti: Introduzione a Lukács, e Introduzione alla Scuola di Francoforte, ambos edits. pela Laterza, Roma-Bari, 1982, 2a. ed., e 1987, 2a. ed., respectivamente."
(Trecho do livro O declínio do marxismo e a herança hegeliana, de Orlando Tambosi, Florianópolis, Edit. da UFSC, 1999, págs. 122-126).
Assinar:
Postagens (Atom)