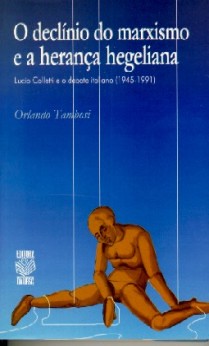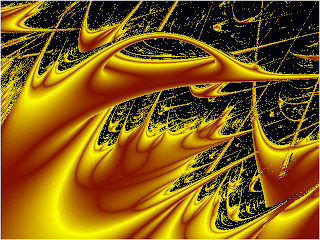 Por Ali Kamel, em 7/2/2007.
Por Ali Kamel, em 7/2/2007. (Reproduzido de O Globo, 6/2/2007).
No meu artigo anterior, defendi a idéia de que o jornalismo é uma forma de conhecimento, uma maneira de apreender a realidade. Afirmei que, diante de uma miríade de fatos, os jornais, seguindo um determinado método, são capazes de escolher o que é relevante.
E que é possível fazer isso com um grau aceitável de objetividade e isenção (embora não sejam todos os veículos que se esforçam para tal). O artigo era uma resposta àqueles que acham que existe apenas um jornalismo de tendências, e que tudo, editorial, páginas de artigos e noticiário em geral, é produzido segundo os valores e as crenças dos donos dos jornais e dos jornalistas que para eles trabalham.
Afirmei que quem pensa assim se justifica sempre se escorando em platitudes filosóficas: a objetividade é um mito, a verdade é inalcançável etc.
Se fosse assim, o jornalismo não retrataria nem analisaria fatos, mas apenas a visão que grupos têm deles. Eu disse que um jornalismo produzido assim não seria jornalismo, mas publicidade, propaganda, porque teria como objetivo não informar, mas conquistar almas, adeptos, seguidores. O jornalismo seria apenas um campo de batalhas de ideologia.
Embora reconhecesse que o jornalismo não consegue ser 100% objetivo, eu disse que, se bem-feito, consegue uma aproximação da realidade, a melhor para aquele período histórico e a partir do instrumental e dos recursos disponíveis. Prometi tratar hoje de como isso é possível. Vamos lá.
O compromisso com a isenção é formal e deve ser uma busca consciente de todos os jornalistas: deve-se sempre, conscientemente, tentar despir-se de seus preconceitos, de suas certezas, de suas paixões, mesmo sabendo que isso não é realizável totalmente. Se em jornalismo não se tem o tempo necessário para se fazer a crítica aos próprios valores, que um antropólogo ou um sociólogo fará antes, durante e depois de qualquer pesquisa, isso não quer dizer que o jornalista deve relaxar seu autocontrole e deixar que suas crenças e seus preconceitos contaminem o seu trabalho cotidianamente. Deve-se sempre evitar idiossincrasias ("esse tipo de assunto eu não noticio", "fulano não merece uma linha de jornal", "esse cara é um escroque, merece mesmo apanhar").
Um bom exercício é tentar abrir sempre espaço a quem pensa diferente, a quem aparentemente está errado, a assuntos de que o jornalista não gosta. Esse é o ponto de partida, o básico, aquilo que está em todo manual. Mas se sabemos que isso na prática não é realizável em 100% do tempo, se somente uma máquina ou um santo conseguiria o autocontrole desejável, isso quer dizer que o jornalismo estará sempre longe da isenção e da objetividade?
Não, porque o processo mesmo de produção de notícias tem mecanismos que ajudam a evitar desvios inconscientes ou propositais. Como o jornalismo é por definição uma obra coletiva, toma parte de todos os processos e de todas as decisões uma multiplicidade de cabeças, cada uma com seus valores individuais, seus preconceitos, suas tendências. Um preconceito tende a anular o outro, uma decisão enviesada tende a ser revista ao longo do dia pela reação de colegas que pensam diferente.
Não se trata de uma discussão eterna ou de uma guerra sem fim, mas de um processo natural, de que poucos se dão conta conscientemente. Mas que existe. Quando um fato chega à redação, é muito comum que se ouça de primeira um "isso não vale" para, logo a seguir, ver-se instalar uma discussão rápida, mas intensa, sobre se "isso vale ou não vale mesmo", num debate extremamente produtivo. Em redações saudáveis, sem a presença de editores idiossincráticos, o resultado acaba sendo um noticiário mais perto da objetividade possível (e editores idiossincráticos, mostra a experiência, acabam expulsos do mercado, porque a arte de editar é a arte de saber ouvir).
Mesmo que essa vacina natural falhe, porém, outra entra em ação para corrigir eventuais desvios: a concorrência entre empresas jornalísticas que disputam o mesmo público. O que um jornal não dá, por omissão deliberada ou por incompetência, o outro dará (e este outro é o concorrente direto, mas também a internet, o rádio, a televisão). Não existe conluio possível entre empresas jornalísticas que competem entre si. Não existe silêncio coletivo auto-imposto. Se o jornal que pecou ou errou não se corrigir, acaba manchado, fora do mercado.
Quem melhor entendeu que o jornalismo é uma forma de conhecer a realidade, com as características que procurei detalhar até aqui, foi a grande imprensa e o seu público. Este exige dela informações que supõe serem as que mais se aproximam da realidade. Querem conhecer para depois formar opinião. Quando percebe que um jornal lhe solapa isso, deixa de comprá-lo.
A grande imprensa há muito entendeu isso. É a única que, de maneira organizada, consegue reunir os recursos tecnológicos e humanos capazes de decodificar a realidade imediata e recodificá-la de modo a ser entendida pelo público. Ela é a única que investe grandes somas de dinheiro em tecnologia de ponta, cada vez mais sofisticada, para que o jornalismo possa cumprir uma de suas obrigações básicas: informar com rapidez. É também a única capaz de atrair pessoal qualificado e, na ausência dele, de qualificar pessoal de modo a torná-lo apto a desempenhar a sua tarefa.
Se mais não for, trata-se de uma questão de sobrevivência. Grupo de mídia algum trocará a sua reputação de longo prazo, garantidora de sua audiência e de sua credibilidade, e, portanto, de seus lucros, para se imiscuir na vida política da sociedade visando a obter benefícios de curtíssimo prazo. Quem pode fazer isso são experiências "jornalísticas" efêmeras, de oportunidade; mas estas, ao enveredarem por esse caminho, abandonam o jornalismo para praticar algo que, como disse antes, na verdade é apenas publicidade.
Um desses que fizeram essa opção escreveu outro dia: "Ninguém é santo". Talvez este seja o único ponto em que concordamos. Mas o fato de que somos todos humanos não significa dizer que todos erremos de propósito.
(Ilustração: Fractal 32, de MaGenco).