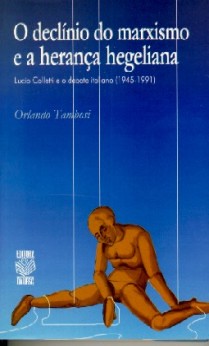À sombra de El Supremo
Com a reforma constitucional aprovada na semana passada,Hugo Chávez consolida seu regime autoritário e personalista na Venezuela. Em Caracas, VEJA ouviu a história de dez venezuelanos que tiveram a vida transformada peladitadura do "socialismo do século XXI"
Diogo Schelp, de Caracas
Para quem não tem a memória pessoal de ter vivido sob uma ditadura, ouvir depoimentos de venezuelanos é uma experiência educativa – e sufocante. O regime que o presidente Hugo Chávez está construindo na Venezuela não apenas é autoritário como se propõe a criar uma nação à imagem e semelhança de seu governante. Nesse ponto, distante de ser a promessa de novidades "século XXI", como proclama, Chávez é fiel à tradição caudilhesca do continente. O estilo centralizador, a intolerância em relação a opiniões divergentes e, sobretudo, o modo como tenta transformar as instituições públicas em um apêndice de sua vontade e idiossincrasias parecem saídos das páginas de Eu O Supremo, a obra magistral do paraguaio Augusto Roa Bastos. O personagem do título é José Gaspar Rodríguez de Francia, "ditador perpétuo" do Paraguai no século XIX e protótipo do perfeito déspota sul-americano.
Nas páginas seguintes estão as histórias de dez venezuelanos cuja vida foi transformada pelo chavismo. Elas comprovam que é impossível ficar imune a um regime como o de Chávez, um prepotente disposto a impor a sua visão de mundo a qualquer custo. Mesmo quem aufere os benefícios da adesão ao ditador torna-se prisioneiro de um esquema que exige submissão absoluta e provas freqüentes de fidelidade. Sobre os que discordam do governo, recai o peso do poder do aparato oficial, que corta o crédito dos empresários, proíbe os órgãos públicos de contratar oposicionistas e pressiona a iniciativa privada a fazer o mesmo, e chega ao extremo de, à moda soviética, punir os filhos pelas posições políticas dos pais. A sufocante atmosfera política ganhou novas nuvens negras na semana passada, quando a Assembléia Nacional terminou de referendar um por um os artigos da proposta de reforma constitucional apresentada pelo presidente. Não foi uma empreitada difícil, pois todos os deputados são chavistas (a oposição boicotou a eleição parlamentar de 2005). Apenas uma meia dúzia se absteve por razões de consciência (veja entrevista).
A nova Constituição, que teve 20% de seus artigos alterados, dá sustentação legal às medidas autoritárias que Chávez vem colocando em prática desde que foi eleito pela primeira vez, em 1998. A centralização do poder nas mãos do presidente, a militarização do país e o desrespeito ao direito de propriedade não são novidades no governo do coronel. Agora, no entanto, foram institucionalizados na Carta Magna da Venezuela. Com um bônus: o mandato presidencial passa de seis para sete anos e pode ser renovado por tempo indeterminado nas urnas. Ou seja, Chávez pode agora aspirar à Presidência vitalícia. A Constituição será submetida à aprovação popular daqui a um mês. O processo é assim, acelerado, porque na Venezuela a Justiça Eleitoral está sob controle de funcionários leais a Chávez. No último referendo, esses quadros fiéis ao regime quebraram o sigilo do voto e permitiram que as informações fossem usadas pelo governo para punir os cidadãos que se opuseram ao presidente.
Para os venezuelanos, a confirmação da nova Constituição significará viver à sombra de um regime autoritário por um período cujas dimensões exatas talvez só possam ser traçadas pelo preço do petróleo. A exportação desse produto, cuja renda é controlada pessoalmente por Chávez, fornece os recursos que permitem ao governo comprar o apoio popular por meio de projetos assistencialistas. Nesse aspecto, o presidente venezuelano tem uma sorte do tamanho das reservas de seu país, que ocupam a sexta posição entre as maiores do planeta. O valor do barril ultrapassou nas últimas semanas a barreira dos 88 dólares, e a perspectiva é que chegue aos 100 dólares em breve. Quando Chávez foi eleito pela primeira vez, o barril valia apenas 10 dólares. A ascensão dos preços petrolíferos definiu desde o princípio o governo do coronel.
Nos últimos oito anos, seu governo passou por três fases. Na primeira, um ano depois de eleito, quando o preço do petróleo andava baixo, ele tratou de aprovar uma nova Constituição, escrita por ele próprio, que lhe permitiu colonizar com aliados a Suprema Corte, removendo esse obstáculo à sua pretensão de governar acima das instituições e da lei. O início da escalada no preço do petróleo permitiu a segunda fase, caracterizada pela invenção da "revolução bolivariana". Até hoje mal definida ideologicamente, essa expressão se traduziu na prática pela expansão do clientelismo político. Chávez criou as misiones, programas assistencialistas que estabeleceram uma dependência concreta entre a população pobre e a figura onipresente do pai da pátria. As misiones, que incluem desde cooperativas até a alfabetização de adultos, são vinculadas diretamente a Chávez e consistem basicamente em uma fórmula para distribuir pequenas quantias de dinheiro aos participantes. Para sustentar esses programas, o presidente apropria-se das reservas internacionais do país e de um fundo formado por parte do lucro da PDVSA, a estatal do petróleo. Essa despesa não necessita da aprovação da Assembléia Nacional.
A terceira fase do governo chavista começou dois anos atrás, com o anúncio de que seu objetivo era a construção do "socialismo do século XXI". O elemento ideológico mais evidente desse conceito é o desejo de Chávez de concentrar o poder em suas mãos pelo maior tempo possível. Um mito proclamado pelos chavistas é o de que o discurso "bolivarista" do presidente tem o apoio da maioria dos venezuelanos. Uma pesquisa de opinião pública feita pela Universidade Central da Venezuela (UCV), em Caracas, mostra uma realidade mais crua. A identificação com Chávez de grande parcela dos venezuelanos, sobretudo os mais pobres, é pessoal e destacada de sua retórica ideológica. Os venezuelanos gostam de Chávez por três motivos. Primeiro, porque ele se parece com as pessoas do "povo", por ser mestiço. Segundo, porque acreditam que ele dá voz aos pobres. Terceiro, porque vêem nele os valores morais, familiares e religiosos que mais prezam. "Os mesmos cidadãos que se identificam com Chávez discordam dos ataques do presidente à propriedade privada, não gostam da militarização do país e sentem calafrios só de pensar em ver a Venezuela repetir a experiência cubana", diz o sociólogo Amalio Belmonte, um dos autores do estudo.
Essa dissociação entre a figura do presidente e suas políticas é própria de ditaduras personalistas, que têm no argentino Juan Domingo Perón, no mexicano Antonio López de Santa Anna e no paraguaio Francia alguns de seus expoentes históricos. Um regime personalista, diz o sociólogo venezuelano Trino Márquez, costuma caracterizar-se por quatro princípios. O primeiro é a idéia de que o governante é o único capaz de liderar a nação para um futuro melhor. A noção de que o ditador é insubstituível é perniciosa porque o leva a acreditar que pode fazer qualquer coisa. No mês passado, Chávez mandou cancelar uma apresentação do cantor espanhol Alejandro Sanz em um teatro público de Caracas apenas porque o músico havia criticado seu governo. O segundo princípio do personalismo é que, independentemente de haver ou não respaldo popular para o regime, o governante necessita cimentar sua força política no controle das Forças Armadas ou de milícias de civis armados. Chávez tem os dois. Sua milícia bolivariana, em que ele espera um dia reunir 2 milhões de homens e mulheres, tem até escritórios dentro das universidades bolivarianas, instituições de ensino superior criadas por Chávez para formar a futura elite de seu "socialismo do século XXI".
Quanto às Forças Armadas, Chávez acaba de conquistar, com a reforma constitucional, o direito de decidir pessoalmente a promoção de todos os militares, dos sargentos aos generais. A Venezuela, sob Chávez, tornou-se o segundo país com o maior gasto militar da América do Sul, depois da Colômbia. Recentemente, Chávez comprou 24 caças supersônicos russos Sukhoi, cinqüenta helicópteros e 100.000 fuzis Kalashnikov, entre outros equipamentos. Quem Chávez pretende enfrentar com esse arsenal? Certamente não os Estados Unidos, apesar de sua retórica antiamericana. Tampouco servirá para invadir a Bolívia, como já prometeu fazer caso seu amigo Evo Morales seja apeado do poder. "Na verdade, a Venezuela não tem um verdadeiro inimigo externo do qual se defender", diz o especialista militar Fernando Sampaio, professor da Escola Superior de Geopolítica e Estratégia, em Porto Alegre. "Portanto, o mais provável é que Chávez esteja se armando para se proteger de seu próprio povo, no dia em que os venezuelanos se cansarem dele."
O terceiro princípio de um regime autoritário personalista é a destruição do estado de direito, já que todas as instituições públicas têm de se submeter à vontade do governante. Na Venezuela, além dos deputados, os juízes, as autoridades eleitorais e até os promotores públicos obedecem às ordens de Chávez. O coronel não apenas nomeou chavistas para os cargos mais altos dessas carreiras como tem o poder de demitir magistrados, já que 80% deles têm contratos temporários com o estado. O quarto elemento personalista, comum no chavismo, é o culto à imagem do líder. Chávez desenvolve esse seu lado narcisista de três maneiras. A primeira consiste em expor seu rosto em tamanho gigante em painéis, murais e até nas laterais dos ônibus nas ruas das cidades venezuelanas. A segunda maneira é sufocando os cidadãos com sua presença intermitente em pronunciamentos no rádio e na TV – ele controla o conteúdo de nada menos que oito canais abertos. A terceira forma de culto à personalidade é apresentar-se como o herdeiro histórico de Simon Bolívar, cuja obra de construção de uma grande nação sul-americana Chávez pretende concluir. Não há entre os brasileiros nenhum herói que receba a idolatria dedicada a Bolívar na Venezuela. Chávez espertamente chamou seu governo de "revolução bolivariana", implicitamente colocando seus opositores na condição de traidores da pátria. É irônico que Chávez seja amigo de Fidel Castro e elogie seu regime marxista, visto que Karl Marx simplesmente desprezava Bolívar. Em carta a seu amigo Friedrich Engels, o ideólogo do comunismo escreveu: "Simon Bolívar é o canalha mais covarde, brutal e miserável".
Como na ditadura de Fidel Castro, Chávez adotou o preceito de que o país entrou em processo de revolução permanente. Está escrito em sua nova Constituição que os meios de participação política do povo (como o voto) devem servir ao propósito da construção do socialismo. A estratégia de Chávez consiste em manter o país em uma transição constante. Isso cria uma sensação ambígua de insegurança e esperança, o que ajuda o presidente a manter as instituições e as massas sob seu controle. O perigo do narcisismo aliado ao autoritarismo é o de Chávez atribuir-se tarefas quase divinas, como a de formar um "novo homem" inspirado em si próprio. "Nesse ponto, Chávez se parece muito com o paraguaio Francia, que chegou a proibir o casamento das jovens brancas com descendentes de espanhóis porque queria criar uma nação mestiça", disse a VEJA o cientista político americano Paul Sondrol, especialista em ditaduras latino-americanas da Universidade do Colorado. A Revolução Russa tinha ambições similares, como escreveu Leon Trotsky em 1916: "Produzir uma versão melhorada do homem, essa é a tarefa futura do comunismo". A tentativa soviética de extirpar do novo homem tudo o que fosse humano e natural resultou, como era de esperar, no fim do comunismo e na sobrevivência do que é humano e natural.
Eficiente em usar os mecanismos democráticos para acabar com a liberdade, Chávez também tem se mostrado capaz de sucatear a economia do país. A afirmação pode parecer contraditória para uma nação cujo produto interno bruto cresce a taxas superiores a 10% ao ano. Mas se justifica quando se levam em conta os fatores que têm alimentado essa expansão. A economia venezuelana cresce graças ao aumento da receita petrolífera e do gasto público. "Em uma economia com muita liquidez e consumo elevado como a nossa, é natural que alguns empresários estejam ganhando muito dinheiro", diz o ex-ministro do Desenvolvimento Urbano da Venezuela Luís Penzini Fleury. "O problema é que as ameaças de estatização, o controle de preços, as importações maciças e os subsídios concedidos a uma parcela da população afastam qualquer interesse dos empresários em fazer novos investimentos", completa Penzini. Resultado: os venezuelanos nunca compraram tanto (a venda de carros no acumulado deste ano já superou em 50% o total de 2006), mas a oferta não está dando conta da demanda porque as empresas não investem na ampliação da produção. Não é sem razão. Quem vai querer investir em um país onde há poucos meses o governo estatizou as principais empresas de telefonia e de energia e fechou um dos maiores canais de TV por razões políticas?
O investimento externo direto na Venezuela é negativo – ou seja, há mais empresários retirando o capital investido do que apostando suas fichas no país. As poucas empresas que ainda se arriscam são construtoras, bancos e shopping centers. As vendas nos shoppings venezuelanos aumentaram quase 30% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A demanda interna é tal que as importações vindas dos Estados Unidos – o grande demônio imperialista, segundo Chávez – aumentaram 40% entre 2005 e 2006. O crescimento das importações não é suficiente para evitar a falta de itens básicos nas gôndolas dos supermercados venezuelanos, uma decorrência direta do congelamento de preços instituído pelo governo numa tentativa tosca de conter a inflação, que deve fechar o ano em 20%, a maior da região. O resultado, na semana passada, eram filas de até seis horas para comprar leite nos mercados estatais. O racionamento de alimentos é um dos primeiros sinais daquilo que os venezuelanos mais temem: a transformação da Venezuela em uma nova Cuba.
2.11.07
23.8.07
Jornalismo e objetividade
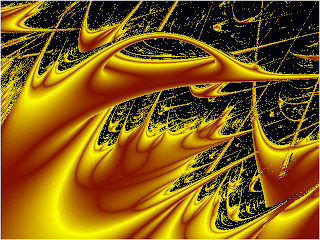 Por Ali Kamel, em 7/2/2007.
Por Ali Kamel, em 7/2/2007. (Reproduzido de O Globo, 6/2/2007).
No meu artigo anterior, defendi a idéia de que o jornalismo é uma forma de conhecimento, uma maneira de apreender a realidade. Afirmei que, diante de uma miríade de fatos, os jornais, seguindo um determinado método, são capazes de escolher o que é relevante.
E que é possível fazer isso com um grau aceitável de objetividade e isenção (embora não sejam todos os veículos que se esforçam para tal). O artigo era uma resposta àqueles que acham que existe apenas um jornalismo de tendências, e que tudo, editorial, páginas de artigos e noticiário em geral, é produzido segundo os valores e as crenças dos donos dos jornais e dos jornalistas que para eles trabalham.
Afirmei que quem pensa assim se justifica sempre se escorando em platitudes filosóficas: a objetividade é um mito, a verdade é inalcançável etc.
Se fosse assim, o jornalismo não retrataria nem analisaria fatos, mas apenas a visão que grupos têm deles. Eu disse que um jornalismo produzido assim não seria jornalismo, mas publicidade, propaganda, porque teria como objetivo não informar, mas conquistar almas, adeptos, seguidores. O jornalismo seria apenas um campo de batalhas de ideologia.
Embora reconhecesse que o jornalismo não consegue ser 100% objetivo, eu disse que, se bem-feito, consegue uma aproximação da realidade, a melhor para aquele período histórico e a partir do instrumental e dos recursos disponíveis. Prometi tratar hoje de como isso é possível. Vamos lá.
O compromisso com a isenção é formal e deve ser uma busca consciente de todos os jornalistas: deve-se sempre, conscientemente, tentar despir-se de seus preconceitos, de suas certezas, de suas paixões, mesmo sabendo que isso não é realizável totalmente. Se em jornalismo não se tem o tempo necessário para se fazer a crítica aos próprios valores, que um antropólogo ou um sociólogo fará antes, durante e depois de qualquer pesquisa, isso não quer dizer que o jornalista deve relaxar seu autocontrole e deixar que suas crenças e seus preconceitos contaminem o seu trabalho cotidianamente. Deve-se sempre evitar idiossincrasias ("esse tipo de assunto eu não noticio", "fulano não merece uma linha de jornal", "esse cara é um escroque, merece mesmo apanhar").
Um bom exercício é tentar abrir sempre espaço a quem pensa diferente, a quem aparentemente está errado, a assuntos de que o jornalista não gosta. Esse é o ponto de partida, o básico, aquilo que está em todo manual. Mas se sabemos que isso na prática não é realizável em 100% do tempo, se somente uma máquina ou um santo conseguiria o autocontrole desejável, isso quer dizer que o jornalismo estará sempre longe da isenção e da objetividade?
Não, porque o processo mesmo de produção de notícias tem mecanismos que ajudam a evitar desvios inconscientes ou propositais. Como o jornalismo é por definição uma obra coletiva, toma parte de todos os processos e de todas as decisões uma multiplicidade de cabeças, cada uma com seus valores individuais, seus preconceitos, suas tendências. Um preconceito tende a anular o outro, uma decisão enviesada tende a ser revista ao longo do dia pela reação de colegas que pensam diferente.
Não se trata de uma discussão eterna ou de uma guerra sem fim, mas de um processo natural, de que poucos se dão conta conscientemente. Mas que existe. Quando um fato chega à redação, é muito comum que se ouça de primeira um "isso não vale" para, logo a seguir, ver-se instalar uma discussão rápida, mas intensa, sobre se "isso vale ou não vale mesmo", num debate extremamente produtivo. Em redações saudáveis, sem a presença de editores idiossincráticos, o resultado acaba sendo um noticiário mais perto da objetividade possível (e editores idiossincráticos, mostra a experiência, acabam expulsos do mercado, porque a arte de editar é a arte de saber ouvir).
Mesmo que essa vacina natural falhe, porém, outra entra em ação para corrigir eventuais desvios: a concorrência entre empresas jornalísticas que disputam o mesmo público. O que um jornal não dá, por omissão deliberada ou por incompetência, o outro dará (e este outro é o concorrente direto, mas também a internet, o rádio, a televisão). Não existe conluio possível entre empresas jornalísticas que competem entre si. Não existe silêncio coletivo auto-imposto. Se o jornal que pecou ou errou não se corrigir, acaba manchado, fora do mercado.
Quem melhor entendeu que o jornalismo é uma forma de conhecer a realidade, com as características que procurei detalhar até aqui, foi a grande imprensa e o seu público. Este exige dela informações que supõe serem as que mais se aproximam da realidade. Querem conhecer para depois formar opinião. Quando percebe que um jornal lhe solapa isso, deixa de comprá-lo.
A grande imprensa há muito entendeu isso. É a única que, de maneira organizada, consegue reunir os recursos tecnológicos e humanos capazes de decodificar a realidade imediata e recodificá-la de modo a ser entendida pelo público. Ela é a única que investe grandes somas de dinheiro em tecnologia de ponta, cada vez mais sofisticada, para que o jornalismo possa cumprir uma de suas obrigações básicas: informar com rapidez. É também a única capaz de atrair pessoal qualificado e, na ausência dele, de qualificar pessoal de modo a torná-lo apto a desempenhar a sua tarefa.
Se mais não for, trata-se de uma questão de sobrevivência. Grupo de mídia algum trocará a sua reputação de longo prazo, garantidora de sua audiência e de sua credibilidade, e, portanto, de seus lucros, para se imiscuir na vida política da sociedade visando a obter benefícios de curtíssimo prazo. Quem pode fazer isso são experiências "jornalísticas" efêmeras, de oportunidade; mas estas, ao enveredarem por esse caminho, abandonam o jornalismo para praticar algo que, como disse antes, na verdade é apenas publicidade.
Um desses que fizeram essa opção escreveu outro dia: "Ninguém é santo". Talvez este seja o único ponto em que concordamos. Mas o fato de que somos todos humanos não significa dizer que todos erremos de propósito.
(Ilustração: Fractal 32, de MaGenco).
22.8.07
O jornalismo
Por Ali Kamel, O Globo, 23/1/2007.
O ano que passou foi especialmente indutor de uma discussão que precisa ser enfrentada: o jornalismo é um campo de batalha de ideologias ou é uma forma de conhecimento da realidade? Já com alguma distância das eleições, que acirraram esse debate, a discussão pode ser travada com menos paixão.
No calor daqueles dias, pairou a idéia de que só existe jornalismo de tendências, uma imprensa de direita e uma imprensa de esquerda, uma tentando mais do que a outra impor as suas idéias. Não estavam em questão apenas os editoriais, mas o fazer jornalístico propriamente dito: a produção de notícias. O jornalismo estaria condenado a ser um campo de batalha de ideologias, estaria a reboque delas ou, pior, a serviço delas. Os jornais (impressos, digitais, radiofônicos ou televisivos) seriam feitos de acordo com os valores de seus donos e dos jornalistas que para eles trabalham. Para provar o que seria o óbvio, os partidários dessa tese lançavam mão de postulados filosóficos como se fossem platitudes: a verdade é inalcançável, isenção é uma utopia, não existe objetividade total. Assim, os jornais seriam feitos segundo as suas verdades e de acordo com os interesses de seu grupo. Os fatos seriam escolhidos, não por critérios de relevância mais ou menos reconhecidos por qualquer bom profissional, mas conforme os valores de quem escolhe. E ganhariam pouco ou grande destaque, seriam narrados e analisados dessa ou daquela maneira, segundo aqueles mesmos valores. Como quem pensa assim não se permite dizer "e o público que se dane", o remédio sugerido por eles seria de uma simplicidade atroz: basta que o público conheça claramente a posição de cada jornal para que escolha aquele que melhor representa sua verdade.
Ocorre que, se fosse assim, não existiria jornalismo, mas apenas publicidade. O objetivo dos jornais seria a cotidiana busca de adeptos de uma determinada visão do mundo. Fariam, então, propaganda; propaganda política, mas propaganda.
E os jornais estariam mortos ou definhando. A sociedade não teria como se mexer, como andar: se não há verdade, se só há um relato de esquerda e outro de direita, como falar em fatos? Viveríamos numa sociedade sem referencial, num mundo de versões.
Nada disso. O jornalismo é uma forma de conhecimento, de apreensão da realidade, segundo um método próprio que, se seguido corretamente (e não são muitos os veículos que se esforçam por segui-lo), leva ao relato e à análise dos fatos com fidelidade. Muitos pensadores brasileiros pensam assim, mas, aqui, não quero citá-los, porque, embora concordemos com esse postulado geral, a partir dele os caminhos são bem diversos (e, assim, não quero correr o risco de que o leitor pense que me apóio na autoridade deles para corroborar o que aqui escrevo).
Diante de uma miríade de acontecimentos, os jornalistas são treinados para discernir que fatos têm relevância e narrá-los e analisá-los de maneira lógica e isenta. Isso implica acolher na análise os diversos pontos de vista, pois a pluralidade é regra geral em tudo o que se faz em jornalismo, inclusive nas páginas de artigos, que devem espelhar as tendências da sociedade. Opinião própria, apenas nos editoriais e sem repercussão no noticiário. Pode haver, portanto, jornais de esquerda e de direita, mas no que se refere a suas opiniões expressas em editoriais, jamais contaminando o noticiário, em nenhuma hipótese influenciando o que deve ou não ser noticiado. Como toda obra humana, o jornalismo está também sujeito ao erro, e erra em quantidade. A regra é a transparência: reconhecer o erro e corrigi-lo.
A prova dos nove de que isso é possível é a comparação entre jornais diferentes. Se compararmos o "Los Angeles Times", o "Washington Post" e o "New York Times", que têm linhas editoriais muito distintas, notaremos com facilidade que é muito parecida a cesta de assuntos oferecida aos leitores. Se excluirmos os assuntos locais, a mesma comparação pode ser feita entre os três americanos e o "El País", da Espanha, o "La Repubblica", da Itália, e o "Daily Telegraph", do Reino Unido: a coincidência também será grande. No Brasil, o leitor pode verificar que "Folha de S.Paulo", "Estado de S. Paulo" e O GLOBO, jornais com poucas afinidades e concorrentes ferozes, destacam sempre mais ou menos os mesmos assuntos. Não é falta de criatividade: é que os jornalistas que neles trabalham, profissionais treinados, sabem reconhecer num enxame de fatos o que é relevante e o que não é.
Mesmo o chamado jornalismo de opinião, em que o jornal ou a revista noticia os fatos, opinando todo o tempo sobre eles, se bem-feito, não se confunde com o que chamei de publicidade. Porque, neste caso, os veículos devem procurar ser isentos e plurais no relato e análise dos acontecimentos, mesmo que ofereçam ao leitor, ao lado da informação, o seu próprio ponto de vista.
Sim, se nem a ciência consegue alcançar a verdade e a objetividade total, como o jornalismo faria essa mágica? Não faz. Como a ciência, o jornalismo é uma aproximação da realidade, mas a melhor que se pode obter naquele instante com o instrumental disponível. É certo que um episódio - o apagão aéreo, por exemplo - daqui a 50 anos vai ser contado e analisado por historiadores com acesso a um material que os jornalistas não conhecem hoje: documentos secretos, atas de reuniões, depoimento dos envolvidos dado muito tempo depois. Daí emergirá um relato mais acurado do que o que os jornais conseguem fazer hoje. Mas os próprios jornais serão usados como fonte da História porque eles conseguem o que historiador algum será capaz de fazer sem eles: capturar o sentimento de uma época. A manchete "gritada" sobre o apagão é ela própria, em sua forma, uma informação: dá conta da perplexidade que a sociedade vive naquele instante. A diagramação do jornal, a hierarquização das notícias, as fotos, são todos eles recursos que informam. Que ajudam a conhecer a realidade. E são próprios apenas ao jornalismo.
Como obter o máximo de objetividade e isenção em jornalismo é o que pretendo discutir no meu próximo artigo.
O ano que passou foi especialmente indutor de uma discussão que precisa ser enfrentada: o jornalismo é um campo de batalha de ideologias ou é uma forma de conhecimento da realidade? Já com alguma distância das eleições, que acirraram esse debate, a discussão pode ser travada com menos paixão.
No calor daqueles dias, pairou a idéia de que só existe jornalismo de tendências, uma imprensa de direita e uma imprensa de esquerda, uma tentando mais do que a outra impor as suas idéias. Não estavam em questão apenas os editoriais, mas o fazer jornalístico propriamente dito: a produção de notícias. O jornalismo estaria condenado a ser um campo de batalha de ideologias, estaria a reboque delas ou, pior, a serviço delas. Os jornais (impressos, digitais, radiofônicos ou televisivos) seriam feitos de acordo com os valores de seus donos e dos jornalistas que para eles trabalham. Para provar o que seria o óbvio, os partidários dessa tese lançavam mão de postulados filosóficos como se fossem platitudes: a verdade é inalcançável, isenção é uma utopia, não existe objetividade total. Assim, os jornais seriam feitos segundo as suas verdades e de acordo com os interesses de seu grupo. Os fatos seriam escolhidos, não por critérios de relevância mais ou menos reconhecidos por qualquer bom profissional, mas conforme os valores de quem escolhe. E ganhariam pouco ou grande destaque, seriam narrados e analisados dessa ou daquela maneira, segundo aqueles mesmos valores. Como quem pensa assim não se permite dizer "e o público que se dane", o remédio sugerido por eles seria de uma simplicidade atroz: basta que o público conheça claramente a posição de cada jornal para que escolha aquele que melhor representa sua verdade.
Ocorre que, se fosse assim, não existiria jornalismo, mas apenas publicidade. O objetivo dos jornais seria a cotidiana busca de adeptos de uma determinada visão do mundo. Fariam, então, propaganda; propaganda política, mas propaganda.
E os jornais estariam mortos ou definhando. A sociedade não teria como se mexer, como andar: se não há verdade, se só há um relato de esquerda e outro de direita, como falar em fatos? Viveríamos numa sociedade sem referencial, num mundo de versões.
Nada disso. O jornalismo é uma forma de conhecimento, de apreensão da realidade, segundo um método próprio que, se seguido corretamente (e não são muitos os veículos que se esforçam por segui-lo), leva ao relato e à análise dos fatos com fidelidade. Muitos pensadores brasileiros pensam assim, mas, aqui, não quero citá-los, porque, embora concordemos com esse postulado geral, a partir dele os caminhos são bem diversos (e, assim, não quero correr o risco de que o leitor pense que me apóio na autoridade deles para corroborar o que aqui escrevo).
Diante de uma miríade de acontecimentos, os jornalistas são treinados para discernir que fatos têm relevância e narrá-los e analisá-los de maneira lógica e isenta. Isso implica acolher na análise os diversos pontos de vista, pois a pluralidade é regra geral em tudo o que se faz em jornalismo, inclusive nas páginas de artigos, que devem espelhar as tendências da sociedade. Opinião própria, apenas nos editoriais e sem repercussão no noticiário. Pode haver, portanto, jornais de esquerda e de direita, mas no que se refere a suas opiniões expressas em editoriais, jamais contaminando o noticiário, em nenhuma hipótese influenciando o que deve ou não ser noticiado. Como toda obra humana, o jornalismo está também sujeito ao erro, e erra em quantidade. A regra é a transparência: reconhecer o erro e corrigi-lo.
A prova dos nove de que isso é possível é a comparação entre jornais diferentes. Se compararmos o "Los Angeles Times", o "Washington Post" e o "New York Times", que têm linhas editoriais muito distintas, notaremos com facilidade que é muito parecida a cesta de assuntos oferecida aos leitores. Se excluirmos os assuntos locais, a mesma comparação pode ser feita entre os três americanos e o "El País", da Espanha, o "La Repubblica", da Itália, e o "Daily Telegraph", do Reino Unido: a coincidência também será grande. No Brasil, o leitor pode verificar que "Folha de S.Paulo", "Estado de S. Paulo" e O GLOBO, jornais com poucas afinidades e concorrentes ferozes, destacam sempre mais ou menos os mesmos assuntos. Não é falta de criatividade: é que os jornalistas que neles trabalham, profissionais treinados, sabem reconhecer num enxame de fatos o que é relevante e o que não é.
Mesmo o chamado jornalismo de opinião, em que o jornal ou a revista noticia os fatos, opinando todo o tempo sobre eles, se bem-feito, não se confunde com o que chamei de publicidade. Porque, neste caso, os veículos devem procurar ser isentos e plurais no relato e análise dos acontecimentos, mesmo que ofereçam ao leitor, ao lado da informação, o seu próprio ponto de vista.
Sim, se nem a ciência consegue alcançar a verdade e a objetividade total, como o jornalismo faria essa mágica? Não faz. Como a ciência, o jornalismo é uma aproximação da realidade, mas a melhor que se pode obter naquele instante com o instrumental disponível. É certo que um episódio - o apagão aéreo, por exemplo - daqui a 50 anos vai ser contado e analisado por historiadores com acesso a um material que os jornalistas não conhecem hoje: documentos secretos, atas de reuniões, depoimento dos envolvidos dado muito tempo depois. Daí emergirá um relato mais acurado do que o que os jornais conseguem fazer hoje. Mas os próprios jornais serão usados como fonte da História porque eles conseguem o que historiador algum será capaz de fazer sem eles: capturar o sentimento de uma época. A manchete "gritada" sobre o apagão é ela própria, em sua forma, uma informação: dá conta da perplexidade que a sociedade vive naquele instante. A diagramação do jornal, a hierarquização das notícias, as fotos, são todos eles recursos que informam. Que ajudam a conhecer a realidade. E são próprios apenas ao jornalismo.
Como obter o máximo de objetividade e isenção em jornalismo é o que pretendo discutir no meu próximo artigo.
16.7.07
A ágora brasileira
A ÁGORA BRASILEIRA: PURA XEPA DE FEIRA?
Por Maria do Espírito Santo Gontijo Canedo
Os sofistas que me desculpem, mas Sócrates é fundamental. Quem és tu, Coriolano? Até tu, Brutus? Os homens nem sempre são o que pode haver de melhor. Conhecer-se a si mesmo é bom; quase nunca muito bons são os espelhos públicos enferrujados que refletem a nossa imagem. Eu sou assim?! Se for, não quero ser mais... Dizer que roubar faz parte do jogo é transformar nosso ganancioso lado negro em norma... Mas como, se a norma veio justamente para conter esse lado? E não basta balançar a cabeça e dizer: Está tudo errado, tudo errado...
Antes estivéssemos discutindo a corrupção das formas de governo, teoria complexa, mas compreensível no campo da filosofia política. Não é isso que está em pauta. O que cabe pensar, em regime de urgência urgentíssima, é a inserção do pacto da corrupção, em vias de ser normatizado informalmente, numa certa ala carnavalesca (que se alastra) da política brasileira. Corromper para roubar virou uma espécie de princípio natural, lei fundante da administração da coisa pública, e o que é pior! A divulgação destes feitos invulgares pela mídia – embora extremamente necessária – corre o risco de banalizar os escândalos, de vulgarizar as ignomínias, uma vez que é típico da natureza humana a acomodação dos sustos e dos descalabros ao sentido, peso e valor, do corriqueiro. De certa maneira, tudo o que é muito comentado se torna monótono, vira rotina. Não se trata mais daquilo que cai no esquecimento, não é bem isto, antes fosse... Pior do que a queda no olvido é a lembrança indiferente de fatos chocantes. E não basta balançar a cabeça e dizer: Não tem mais jeito, não tem jeito...
Quase todos estão acordados, se calhar, para o caso canhestro do Calheiros. A coisa encalha, todo o mundo vaia, mais uma vaga que invade a praia e depois volta ao mar dissoluto, dissoluta em outras ondas do mesmo teor. O que era para ser chamado de fatal virou fenômeno natural e até mesmo os protestos fazem parte do pacote. E não basta balançar a cabeça e dizer: É um insulto, é um insulto à nossa inteligência...
Qual seria, então, a solução? Ora, se eu a tivesse pronta, sacada da cartola de um mágico hegeliano, eu a mostraria aqui e agora, em forma de coelho ideal, pombo metafísico, lenço teleológico ou moedas de ouro de tolo... Entre a corrupção e a ação para tolhê-la não há um biombo bambo e sim um muro da Jerusalém Celeste, de dificílimo acesso e ataque posto serem suas pedras sem peso compostas de letais gases etéreos. Combater moinhos de vento é o que há de mais difícil, já o sabemos desde o princípio do século XVII, mas talvez, mais do que nunca dantes, precisemos de Quixotes.
Um amigo me disse, dias atrás, que todo o mundo especula... Embora estivesse falando no contexto da economia, transladarei o conceito para o mundo da etimologia. A palavra especular vem do latim specularis e quer dizer pertencente ou relativo a espelho. Assim sendo, quando especulamos estamos, em última análise, nos reconhecendo ou buscando nos reconhecer por meio do espelho. Especular, dessa forma, é também, por analogia, o exercício/percurso do pensar.
Sócrates, o que nada sabia, se dizia um partejador das idéias dos seus discípulos, uma espécie de direcionador do processo do pensamento. Assim sendo, antes de partirmos em busca de mais uma solução mágica, antes de nos atolarmos na areia movediça do reclamar por reclamar, é preciso refletir sobre o que aí está, não como miragem e sim como clara evidência e realidade. Querendo ou não, o que vemos é a imagem num espelho – nem sempre claro – se não do que somos, mas do que nos tornamos como nação. Diante desta ineludível catástrofe, como agir? É o que mais nos cabe agora especular...
Por Maria do Espírito Santo Gontijo Canedo
Os sofistas que me desculpem, mas Sócrates é fundamental. Quem és tu, Coriolano? Até tu, Brutus? Os homens nem sempre são o que pode haver de melhor. Conhecer-se a si mesmo é bom; quase nunca muito bons são os espelhos públicos enferrujados que refletem a nossa imagem. Eu sou assim?! Se for, não quero ser mais... Dizer que roubar faz parte do jogo é transformar nosso ganancioso lado negro em norma... Mas como, se a norma veio justamente para conter esse lado? E não basta balançar a cabeça e dizer: Está tudo errado, tudo errado...
Antes estivéssemos discutindo a corrupção das formas de governo, teoria complexa, mas compreensível no campo da filosofia política. Não é isso que está em pauta. O que cabe pensar, em regime de urgência urgentíssima, é a inserção do pacto da corrupção, em vias de ser normatizado informalmente, numa certa ala carnavalesca (que se alastra) da política brasileira. Corromper para roubar virou uma espécie de princípio natural, lei fundante da administração da coisa pública, e o que é pior! A divulgação destes feitos invulgares pela mídia – embora extremamente necessária – corre o risco de banalizar os escândalos, de vulgarizar as ignomínias, uma vez que é típico da natureza humana a acomodação dos sustos e dos descalabros ao sentido, peso e valor, do corriqueiro. De certa maneira, tudo o que é muito comentado se torna monótono, vira rotina. Não se trata mais daquilo que cai no esquecimento, não é bem isto, antes fosse... Pior do que a queda no olvido é a lembrança indiferente de fatos chocantes. E não basta balançar a cabeça e dizer: Não tem mais jeito, não tem jeito...
Quase todos estão acordados, se calhar, para o caso canhestro do Calheiros. A coisa encalha, todo o mundo vaia, mais uma vaga que invade a praia e depois volta ao mar dissoluto, dissoluta em outras ondas do mesmo teor. O que era para ser chamado de fatal virou fenômeno natural e até mesmo os protestos fazem parte do pacote. E não basta balançar a cabeça e dizer: É um insulto, é um insulto à nossa inteligência...
Qual seria, então, a solução? Ora, se eu a tivesse pronta, sacada da cartola de um mágico hegeliano, eu a mostraria aqui e agora, em forma de coelho ideal, pombo metafísico, lenço teleológico ou moedas de ouro de tolo... Entre a corrupção e a ação para tolhê-la não há um biombo bambo e sim um muro da Jerusalém Celeste, de dificílimo acesso e ataque posto serem suas pedras sem peso compostas de letais gases etéreos. Combater moinhos de vento é o que há de mais difícil, já o sabemos desde o princípio do século XVII, mas talvez, mais do que nunca dantes, precisemos de Quixotes.
Um amigo me disse, dias atrás, que todo o mundo especula... Embora estivesse falando no contexto da economia, transladarei o conceito para o mundo da etimologia. A palavra especular vem do latim specularis e quer dizer pertencente ou relativo a espelho. Assim sendo, quando especulamos estamos, em última análise, nos reconhecendo ou buscando nos reconhecer por meio do espelho. Especular, dessa forma, é também, por analogia, o exercício/percurso do pensar.
Sócrates, o que nada sabia, se dizia um partejador das idéias dos seus discípulos, uma espécie de direcionador do processo do pensamento. Assim sendo, antes de partirmos em busca de mais uma solução mágica, antes de nos atolarmos na areia movediça do reclamar por reclamar, é preciso refletir sobre o que aí está, não como miragem e sim como clara evidência e realidade. Querendo ou não, o que vemos é a imagem num espelho – nem sempre claro – se não do que somos, mas do que nos tornamos como nação. Diante desta ineludível catástrofe, como agir? É o que mais nos cabe agora especular...
6.5.07
O retorno do Idiota
Artigo de Álvaro Vargas Llosa, publicado na Veja (09-05-07).
Dez anos atrás, o colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, o cubano Carlos Alberto Montaner e eu escrevemos Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, livro que criticava os líderes políticos e formadores de opinião que, apesar de todas as provas em contrário, se apegam a mitos políticos mal concebidos. A espécie "Idiota", dizíamos então, era responsável pelo subdesenvolvimento da América Latina. Tais crenças – revolução, nacionalismo econômico, ódio aos Estados Unidos, fé no governo como agente da justiça social, paixão pelo regime do homem forte em lugar do regime da lei – tinham origem, em nossa opinião, no complexo de inferioridade. No fim dos anos 1990, parecia que os idiotas estavam finalmente em retirada. Mas o recuo durou pouco. Hoje, a espécie retornou na forma de chefes de estado populistas empenhados em aplicar as mesmas políticas fracassadas no passado. Em todo o mundo, há formadores de opinião prontos a lhes dar credibilidade e simpatizantes ansiosos por conceder vida nova a idéias que pareciam extintas.
Por causa da inexorável passagem do tempo, os jovens idiotas latino-americanos preferem as baladas pop de Shakira aos mambos do cubano Pérez Prado e não cantam mais hinos da esquerda, como A Internacional e Hasta Siempre, Comandante. Mas eles ainda são os mesmos descendentes de migrantes rurais, de classe média e profundamente ressentidos com a vida fútil dos ricos que vêem nas revistas de fofocas, folheadas discretamente nas bancas. Universidades públicas fornecem a eles uma visão classista da sociedade, baseada na idéia de que a riqueza precisa ser tomada das mãos daqueles que a roubaram. Para esses jovens idiotas, a situação atual da América Latina é resultado do colonialismo espanhol e português, seguido do imperialismo dos Estados Unidos. Essas crenças básicas fornecem uma válvula de segurança para suas queixas contra uma sociedade que oferece pouca mobilidade social. Freud poderia dizer que eles têm o ego fraco, incapaz de fazer a mediação entre seus instintos e a sua idéia de moralidade. Em lugar disso, suprimem o conceito de que a ação predatória e a vingança são erradas e racionalizam a própria agressividade com noções elementares do marxismo.
Os idiotas latino-americanos tradicionalmente se identificam com os caudilhos, figuras autoritárias quase sobrenaturais que têm dominado a política da região, vociferando contra a influência estrangeira e as instituições republicanas. Dois líderes, particularmente, inspiram o Idiota de hoje: os presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Evo Morales, da Bolívia. Chávez é visto como o perfeito sucessor do cubano Fidel Castro (a quem o Idiota também admira): ele chegou ao poder pelas urnas, o que o libera da necessidade de justificar a luta armada, e tem petróleo em abundância, o que significa que pode bancar suas promessas sociais. O Idiota também credita a Chávez a mais progressista de todas as políticas – ter colocado as Forças Armadas, paradigma do regime oligárquico, para trabalhar em programas sociais. De sua parte, o boliviano Evo Morales tem um apelo indigenista. Para o Idiota, o antigo plantador de coca é a reencarnação de Tupac Katari, um rebelde aimará do século XVIII que, antes de ser executado pelas autoridades coloniais espanholas, profetizou: "Eu voltarei e serei milhões". O Idiota acredita em Morales quando ele alega falar pelas massas indígenas, do sul do México aos Andes, que buscam reparação pela exploração sofrida em 300 anos de domínio colonial e outros 200 anos de oligarquia republicana.
visão de mundo do Idiota, vez por outra, encontra eco entre intelectuais ilustres na Europa e nos Estados Unidos. Esses pontificadores aliviam o peso na consciência apoiando causas exóticas em países em desenvolvimento. Suas opiniões atraem fãs entre os jovens do Primeiro Mundo, para os quais a fobia da globalização oferece a perfeita oportunidade de encontrar satisfação espiritual na lamentação populista do Idiota latino-americano contra o perverso Ocidente.
Não há nada de original no fato de intelectuais do Primeiro Mundo projetarem suas utopias sobre a América Latina. Cristóvão Colombo chegou por acaso à América em um tempo em que as idéias utópicas da Renascença estavam em voga. Desde o início, os conquistadores descreveram as terras encontradas como nada menos que paradisíacas. O mito do bom selvagem – a idéia de que os nativos do Novo Mundo tinham uma bondade imaculada, não manchada pelas maldades da civilização – impregnou a mente européia. A tendência de usar a América como uma válvula de escape para a frustração com os insuportáveis conforto e abundância da civilização ocidental continuou por séculos. Pelos anos 60 e 70, quando a América Latina estava repleta de organizações terroristas marxistas, esses grupos violentos encontraram apoio maciço na Europa e nos Estados Unidos entre pessoas que nunca teriam aceitado um regime totalitário no estilo de Fidel Castro em seu próprio país.
O atual ressurgimento do Idiota latino-americano precipitou o retorno de seus correspondentes: os idiotas paternalistas europeus e americanos. Mais uma vez, importantes acadêmicos e escritores estão projetando seu idealismo, sua consciência cheia de culpa ou as queixas contra sua própria sociedade no cenário latino-americano, emprestando seu nome a abomináveis causas populistas. Ganhadores do Nobel, incluindo o dramaturgo inglês Harold Pinter, o escritor português José Saramago e o economista americano Joseph Stiglitz, lingüistas americanos como Noam Chomsky e sociólogos como James Petras, jornalistas europeus como Ignacio Ramonet e alguns de veículos como Le Nouvel Observateur, na França, Die Zeit, na Alemanha, e Washington Post, nos Estados Unidos, estão mais uma vez propagando absurdos que moldam as opiniões de milhões de leitores e santificam o Idiota latino-americano. Esse lapso intelectual seria praticamente inócuo se não tivesse conseqüências. Mas, pelo fato de legitimar um tipo de governo que está no âmago do subdesenvolvimento econômico e político da América Latina, esse lapso se constitui numa forma de traição intelectual.
UM AMOR ESTRANGEIRO
O exemplo mais notável da simbiose entre alguns intelectuais ocidentais e os caudilhos latino-americanos é a relação amorosa entre os idiotas americanos e europeus e Hugo Chávez. O líder venezuelano, apesar das tendências nacionalistas, não hesita em citar estrangeiros em seus pronunciamentos para fortalecer suas opiniões. Basta ver o discurso de Chávez na ONU, no ano passado, no qual exaltou o livro de Chomsky Hegemonia ou Sobrevivência: a Busca da América pelo Domínio Global. Do mesmo modo, em apresentações no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Chomsky apontou a Venezuela como um exemplo para o mundo em desenvolvimento, elogiando políticas sociais bem-sucedidas nas áreas de educação e assistência médica, que teriam resgatado a dignidade dos venezuelanos. Ele também expressou admiração pelo fato de "a Venezuela ter desafiado com sucesso os Estados Unidos, um país que não gosta de desafios, menos ainda quando são bem-sucedidos".
Na realidade, os programas sociais da Venezuela têm se tornado, com a ajuda dos serviços de inteligência cubanos, veículos para cooptar e criar dependência social do governo. Além disso, sua eficácia é suspeita. O Centro de Documentação e Análise Social da Federação Venezuelana de Professores, instituto de pesquisas do sindicato da categoria, relatou que 80% dos domicílios venezuelanos tinham dificuldades em cobrir as despesas com comida em 2006 – a mesma proporção de quando Chávez chegou ao poder, em 1999, e quando o preço do barril de petróleo era um terço do atual. Quanto à dignidade das pessoas, a verdade é que, desde que Chávez se tornou presidente, ocorrem 10.000 homicídios por ano na Venezuela, dando ao país a maior taxa de assassinatos per capita do mundo.
Outra nação pela qual alguns formadores de opinião americanos têm uma queda é Cuba. Em 2003, o regime de Fidel Castro executou três jovens que haviam seqüestrado um barco e tentado escapar da ilha. Fidel também mandou 75 ativistas democratas para a prisão por terem emprestado livros proibidos. Como resposta, James Petras, há anos professor de sociologia da State University of New York, em Binghamton, escreveu um artigo intitulado "A responsabilidade dos intelectuais: Cuba, os Estados Unidos e direitos humanos". Em seu texto, que foi reproduzido por várias publicações esquerdistas em todo o mundo, defendeu Havana argumentando que as vítimas estavam a serviço do governo americano.
Conhecido simpatizante de Fidel, Ignacio Ramonet, editor do Le Monde Diplomatique, jornal francês que advoga qualquer causa sem graça que tenha origem no Terceiro Mundo, sustenta que a globalização tornou a América Latina mais pobre. A verdade é que a pobreza foi modestamente reduzida nos últimos cinco anos. A globalização gera tanta receita aos governos latino-americanos com a venda de commodities e com os impostos pagos pelos investidores estrangeiros que eles têm distribuído subsídios aos mais pobres – o que dificilmente é uma solução para a pobreza a longo prazo.
Com duas décadas de atraso, Harold Pinter fez uma avaliação espantosa do governo sandinista em seu discurso de aceitação do Nobel em 2005. Acreditando talvez que uma defesa dos populistas do passado poderia ajudar os populistas de hoje, ele disse que os sandinistas tinham "aberto o caminho para estabelecer uma sociedade estável, decente e pluralista" e que não havia "registro de tortura" ou de "brutalidade militar oficial ou sistemática" sob o governo de Daniel Ortega, nos anos 80. Alguém pode se perguntar, então, por que os sandinistas foram apeados do poder pelo povo da Nicarágua nas eleições de 1990. Ou por que os eleitores os mantiveram fora do poder durante quase duas décadas – até Ortega se transformar num travesti político, declarando-se defensor da economia de mercado. Quanto à negação das atrocidades sandinistas, Pinter faria bem em lembrar o massacre dos índios misquitos, em 1981, na costa atlântica da Nicarágua. Sob a fachada de uma campanha de alfabetização, os sandinistas, com a ajuda de militares cubanos, tentaram doutrinar os misquitos com a ideologia marxista. Os índios recusaram-se a aceitar o controle sandinista. Acusando-os de apoiar os grupos de oposição baseados em Honduras, os homens de Ortega mataram cinqüenta índios, prenderam centenas e reassentaram à força outros tantos. O ganhador do Nobel deveria lembrar também que seu herói Ortega se tornou um capitalista milionário graças à distribuição dos ativos do governo e de propriedades confiscadas, que os líderes sandinistas repartiram entre si após a derrota nas eleições de 1990.
O entusiasmo com o populismo latino-americano se estende a jornalistas dos principais veículos de comunicação. Tome como exemplo algumas matérias escritas por Juan Forero, do Washington Post. Ele é mais equilibrado e informado do que os luminares mencionados acima, mas, de vez em quando, revela um estranho entusiasmo pelo populismo do tipo que está varrendo a região. Em um artigo recente sobre a generosidade estrangeira de Chávez, ele e seu colega Peter S. Goodman criaram uma imagem positiva da forma como Chávez ajuda alguns países a se desfazer da rigidez imposta por agências multilaterais quando emprestam dinheiro para essas nações poderem quitar suas dívidas. Defensores dessa política foram citados favoravelmente e nenhuma menção foi feita ao fato de que o dinheiro do petróleo da Venezuela pertence ao povo venezuelano, e não a governos estrangeiros ou entidades alinhadas com Chávez, ou que esses subsídios têm limitações políticas. É o que se vê no ataque do presidente da Argentina, Néstor Kirchner, aos Estados Unidos e na louvação a Chávez, respostas evidentes à promessa feita por Chávez de comprar novos bônus da dívida argentina.
O PROBLEMA COM O POPULISMO
Observadores estrangeiros estão deixando de compreender um ponto essencial: o populismo latino-americano nada tem a ver com justiça social. No início, no século XIX, era uma reação ao estado oligárquico na forma de movimentos de massa liderados por caudilhos, cujo mantra era culpar as nações ricas pela má situação da América Latina. Esses movimentos baseavam sua legitimidade no voluntarismo, no protecionismo e na maciça redistribuição de riqueza. O resultado, por todo o século XX, foram governos inchados, burocracias sufocantes, subserviência das instituições judiciais à autoridade política e economias parasitárias.
Populistas têm características básicas comuns: o voluntarismo do caudilho como um substituto da lei, a impugnação da oligarquia e sua substituição por outro tipo de oligarquia, a denúncia do imperialismo (com o inimigo sempre sendo os Estados Unidos), a projeção da luta de classes entre os ricos e os pobres para o terreno das relações internacionais, a idolatria do estado como uma força redentora dos pobres, o autoritarismo sob a aparência de segurança de estado e clientelismo, uma forma de paternalismo pela qual os empregos públicos – em oposição à geração de riqueza – são os canais de mobilidade social e uma forma de manter o voto cativo nas eleições. O legado dessas políticas é claro: quase metade da população da América Latina é pobre, com mais de um em cada cinco vivendo com 2 dólares ou menos por dia. E entre 1 milhão e 2 milhões de migrantes procurando os Estados Unidos e a Europa a cada ano em busca de uma vida melhor.
Mesmo na América Latina parte da esquerda está fazendo a transição, afastando-se da Idiotice – semelhante ao tipo de transição mental que a esquerda européia, da Espanha à Escandinávia, fez décadas atrás, quando, de má vontade, abraçou a democracia liberal e a economia de mercado. Na América Latina, pode-se falar em uma "esquerda vegetariana" e uma "esquerda carnívora". A esquerda vegetariana é representada por líderes como o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, e o presidente costa-riquenho, Oscar Arias. Apesar da retórica carnívora ocasional, esses líderes têm evitado os erros da antiga esquerda, como uma barulhenta confrontação com o mundo desenvolvido e a devassidão monetária e fiscal. Eles se adaptaram à conformidade social-democrata e relutam em fazer grandes reformas, mas apresentam um passo positivo no esforço para modernizar a esquerda.
Em contrapartida, a esquerda "carnívora" é representada por Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales e pelo presidente do Equador, Rafael Correa. Eles se prendem a uma visão marxista da sociedade e a uma mentalidade da Guerra Fria que separa o Norte do Sul e buscam explorar as tensões étnicas, particularmente na região andina. A sorte inesperada com o petróleo obtida por Hugo Chávez está financiando boa parte dessa empreitada. A gastronomia de Néstor Kirchner, da Argentina, é ambígua. Ele está situado em algum ponto entre os carnívoros e os vegetarianos. Desvalorizou a moeda, instituiu controles de preços e nacionalizou ou criou empresas estatais nos principais setores da economia. Mas tem evitado excessos revolucionários e pagou a dívida argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI), ainda que com a ajuda do crédito venezuelano. A posição ambígua de Kirchner tem ajudado Chávez, que preencheu o vácuo de poder no Mercosul para projetar sua influência na região.
Estranhamente, muitos europeus e americanos "vegetarianos" apóiam os "carnívoros" da América Latina. Um exemplo é Joseph Stiglitz, que tem defendido os programas de nacionalização na Bolívia de Morales e na Venezuela de Chávez. Numa entrevista para a rádio Caracol, da Colômbia, Stiglitz disse que as nacionalizações não deveriam causar apreensão porque "empresas públicas podem ser muito bem-sucedidas, como é o caso do sistema de pensões da Seguridade Social nos Estados Unidos". Stiglitz, porém, não defendeu a nacionalização das principais empresas privadas ou de capital aberto de seu país e parece ignorar que, do México para baixo, nacionalizações estão no centro das desastrosas experiências populistas do passado.
Stiglitz também ignora o fato de que na América Latina não há uma separação real entre as instituições do estado e o governo. Empresas estatais rapidamente se tornam canais para patronato político e corrupção. A principal empresa de telecomunicações da Venezuela tem sido uma história de sucesso desde que foi privatizada, no início dos anos 1990. O mercado de telecomunicações experimentou um crescimento de 25% nos últimos três anos. Em contrapartida, a gigante estatal de petróleo tem visto sua receita cair sistematicamente. A Venezuela produz hoje quase 1 milhão de barris de petróleo menos do que produzia nos primeiros anos desta década. No México, onde o petróleo também está nas mãos do governo, o projeto Cantarell, que representa quase dois terços da produção nacional, vai perder metade de seu rendimento nos próximos dois anos por causa da baixa capitalização.
É realmente importante o fato de que os intelectuais americanos e europeus matam sua sede pelo exótico promovendo idiotas latino-americanos? A resposta inequívoca é sim. Uma luta cultural está sendo deflagrada na América Latina – entre aqueles que querem colocar a região no firmamento global e vê-la emergir como um importante colaborador para a cultura ocidental, à qual seu destino está associado há cinco séculos, e aqueles que não conseguem aceitar essa idéia e resistem. Apesar de a América Latina ter experimentado algum progresso nos últimos anos, essa tensão está impedindo seu desenvolvimento em comparação com outras regiões do mundo – como o Leste Asiático, a Península Ibérica ou a Europa Central – que, há pouco tempo, eram exemplos de atraso. Nas últimas três décadas, a média de crescimento anual do PIB da América Latina foi de 2,8% – contra 5,5% do Sudeste Asiático e a média mundial de 3,6%.
Esse fraco desempenho explica por que quase 45% da população ainda está na pobreza e por que, depois de um quarto de século de regime democrático, pesquisas feitas na região revelam uma profunda insatisfação com instituições democráticas e partidos tradicionais. Enquanto o Idiota latino-americano não for relegado aos arquivos históricos – algo difícil de acontecer enquanto tantos espíritos condescendentes no mundo desenvolvido continuarem a lhe dar apoio –, isso não vai mudar.
* Álvaro Vargas Llosa é diretor do Centro para a Prosperidade Global do Instituto Independente, em Washington. Reproduzido por Veja com permissão do Foreign Policy nº 160 (maio/junho 2007) – www.foreignpolicy.com. Copyright 2007, Carnegie Endowment for Internacional Peace
Dez anos atrás, o colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, o cubano Carlos Alberto Montaner e eu escrevemos Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, livro que criticava os líderes políticos e formadores de opinião que, apesar de todas as provas em contrário, se apegam a mitos políticos mal concebidos. A espécie "Idiota", dizíamos então, era responsável pelo subdesenvolvimento da América Latina. Tais crenças – revolução, nacionalismo econômico, ódio aos Estados Unidos, fé no governo como agente da justiça social, paixão pelo regime do homem forte em lugar do regime da lei – tinham origem, em nossa opinião, no complexo de inferioridade. No fim dos anos 1990, parecia que os idiotas estavam finalmente em retirada. Mas o recuo durou pouco. Hoje, a espécie retornou na forma de chefes de estado populistas empenhados em aplicar as mesmas políticas fracassadas no passado. Em todo o mundo, há formadores de opinião prontos a lhes dar credibilidade e simpatizantes ansiosos por conceder vida nova a idéias que pareciam extintas.
Por causa da inexorável passagem do tempo, os jovens idiotas latino-americanos preferem as baladas pop de Shakira aos mambos do cubano Pérez Prado e não cantam mais hinos da esquerda, como A Internacional e Hasta Siempre, Comandante. Mas eles ainda são os mesmos descendentes de migrantes rurais, de classe média e profundamente ressentidos com a vida fútil dos ricos que vêem nas revistas de fofocas, folheadas discretamente nas bancas. Universidades públicas fornecem a eles uma visão classista da sociedade, baseada na idéia de que a riqueza precisa ser tomada das mãos daqueles que a roubaram. Para esses jovens idiotas, a situação atual da América Latina é resultado do colonialismo espanhol e português, seguido do imperialismo dos Estados Unidos. Essas crenças básicas fornecem uma válvula de segurança para suas queixas contra uma sociedade que oferece pouca mobilidade social. Freud poderia dizer que eles têm o ego fraco, incapaz de fazer a mediação entre seus instintos e a sua idéia de moralidade. Em lugar disso, suprimem o conceito de que a ação predatória e a vingança são erradas e racionalizam a própria agressividade com noções elementares do marxismo.
Os idiotas latino-americanos tradicionalmente se identificam com os caudilhos, figuras autoritárias quase sobrenaturais que têm dominado a política da região, vociferando contra a influência estrangeira e as instituições republicanas. Dois líderes, particularmente, inspiram o Idiota de hoje: os presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Evo Morales, da Bolívia. Chávez é visto como o perfeito sucessor do cubano Fidel Castro (a quem o Idiota também admira): ele chegou ao poder pelas urnas, o que o libera da necessidade de justificar a luta armada, e tem petróleo em abundância, o que significa que pode bancar suas promessas sociais. O Idiota também credita a Chávez a mais progressista de todas as políticas – ter colocado as Forças Armadas, paradigma do regime oligárquico, para trabalhar em programas sociais. De sua parte, o boliviano Evo Morales tem um apelo indigenista. Para o Idiota, o antigo plantador de coca é a reencarnação de Tupac Katari, um rebelde aimará do século XVIII que, antes de ser executado pelas autoridades coloniais espanholas, profetizou: "Eu voltarei e serei milhões". O Idiota acredita em Morales quando ele alega falar pelas massas indígenas, do sul do México aos Andes, que buscam reparação pela exploração sofrida em 300 anos de domínio colonial e outros 200 anos de oligarquia republicana.
visão de mundo do Idiota, vez por outra, encontra eco entre intelectuais ilustres na Europa e nos Estados Unidos. Esses pontificadores aliviam o peso na consciência apoiando causas exóticas em países em desenvolvimento. Suas opiniões atraem fãs entre os jovens do Primeiro Mundo, para os quais a fobia da globalização oferece a perfeita oportunidade de encontrar satisfação espiritual na lamentação populista do Idiota latino-americano contra o perverso Ocidente.
Não há nada de original no fato de intelectuais do Primeiro Mundo projetarem suas utopias sobre a América Latina. Cristóvão Colombo chegou por acaso à América em um tempo em que as idéias utópicas da Renascença estavam em voga. Desde o início, os conquistadores descreveram as terras encontradas como nada menos que paradisíacas. O mito do bom selvagem – a idéia de que os nativos do Novo Mundo tinham uma bondade imaculada, não manchada pelas maldades da civilização – impregnou a mente européia. A tendência de usar a América como uma válvula de escape para a frustração com os insuportáveis conforto e abundância da civilização ocidental continuou por séculos. Pelos anos 60 e 70, quando a América Latina estava repleta de organizações terroristas marxistas, esses grupos violentos encontraram apoio maciço na Europa e nos Estados Unidos entre pessoas que nunca teriam aceitado um regime totalitário no estilo de Fidel Castro em seu próprio país.
O atual ressurgimento do Idiota latino-americano precipitou o retorno de seus correspondentes: os idiotas paternalistas europeus e americanos. Mais uma vez, importantes acadêmicos e escritores estão projetando seu idealismo, sua consciência cheia de culpa ou as queixas contra sua própria sociedade no cenário latino-americano, emprestando seu nome a abomináveis causas populistas. Ganhadores do Nobel, incluindo o dramaturgo inglês Harold Pinter, o escritor português José Saramago e o economista americano Joseph Stiglitz, lingüistas americanos como Noam Chomsky e sociólogos como James Petras, jornalistas europeus como Ignacio Ramonet e alguns de veículos como Le Nouvel Observateur, na França, Die Zeit, na Alemanha, e Washington Post, nos Estados Unidos, estão mais uma vez propagando absurdos que moldam as opiniões de milhões de leitores e santificam o Idiota latino-americano. Esse lapso intelectual seria praticamente inócuo se não tivesse conseqüências. Mas, pelo fato de legitimar um tipo de governo que está no âmago do subdesenvolvimento econômico e político da América Latina, esse lapso se constitui numa forma de traição intelectual.
UM AMOR ESTRANGEIRO
O exemplo mais notável da simbiose entre alguns intelectuais ocidentais e os caudilhos latino-americanos é a relação amorosa entre os idiotas americanos e europeus e Hugo Chávez. O líder venezuelano, apesar das tendências nacionalistas, não hesita em citar estrangeiros em seus pronunciamentos para fortalecer suas opiniões. Basta ver o discurso de Chávez na ONU, no ano passado, no qual exaltou o livro de Chomsky Hegemonia ou Sobrevivência: a Busca da América pelo Domínio Global. Do mesmo modo, em apresentações no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Chomsky apontou a Venezuela como um exemplo para o mundo em desenvolvimento, elogiando políticas sociais bem-sucedidas nas áreas de educação e assistência médica, que teriam resgatado a dignidade dos venezuelanos. Ele também expressou admiração pelo fato de "a Venezuela ter desafiado com sucesso os Estados Unidos, um país que não gosta de desafios, menos ainda quando são bem-sucedidos".
Na realidade, os programas sociais da Venezuela têm se tornado, com a ajuda dos serviços de inteligência cubanos, veículos para cooptar e criar dependência social do governo. Além disso, sua eficácia é suspeita. O Centro de Documentação e Análise Social da Federação Venezuelana de Professores, instituto de pesquisas do sindicato da categoria, relatou que 80% dos domicílios venezuelanos tinham dificuldades em cobrir as despesas com comida em 2006 – a mesma proporção de quando Chávez chegou ao poder, em 1999, e quando o preço do barril de petróleo era um terço do atual. Quanto à dignidade das pessoas, a verdade é que, desde que Chávez se tornou presidente, ocorrem 10.000 homicídios por ano na Venezuela, dando ao país a maior taxa de assassinatos per capita do mundo.
Outra nação pela qual alguns formadores de opinião americanos têm uma queda é Cuba. Em 2003, o regime de Fidel Castro executou três jovens que haviam seqüestrado um barco e tentado escapar da ilha. Fidel também mandou 75 ativistas democratas para a prisão por terem emprestado livros proibidos. Como resposta, James Petras, há anos professor de sociologia da State University of New York, em Binghamton, escreveu um artigo intitulado "A responsabilidade dos intelectuais: Cuba, os Estados Unidos e direitos humanos". Em seu texto, que foi reproduzido por várias publicações esquerdistas em todo o mundo, defendeu Havana argumentando que as vítimas estavam a serviço do governo americano.
Conhecido simpatizante de Fidel, Ignacio Ramonet, editor do Le Monde Diplomatique, jornal francês que advoga qualquer causa sem graça que tenha origem no Terceiro Mundo, sustenta que a globalização tornou a América Latina mais pobre. A verdade é que a pobreza foi modestamente reduzida nos últimos cinco anos. A globalização gera tanta receita aos governos latino-americanos com a venda de commodities e com os impostos pagos pelos investidores estrangeiros que eles têm distribuído subsídios aos mais pobres – o que dificilmente é uma solução para a pobreza a longo prazo.
Com duas décadas de atraso, Harold Pinter fez uma avaliação espantosa do governo sandinista em seu discurso de aceitação do Nobel em 2005. Acreditando talvez que uma defesa dos populistas do passado poderia ajudar os populistas de hoje, ele disse que os sandinistas tinham "aberto o caminho para estabelecer uma sociedade estável, decente e pluralista" e que não havia "registro de tortura" ou de "brutalidade militar oficial ou sistemática" sob o governo de Daniel Ortega, nos anos 80. Alguém pode se perguntar, então, por que os sandinistas foram apeados do poder pelo povo da Nicarágua nas eleições de 1990. Ou por que os eleitores os mantiveram fora do poder durante quase duas décadas – até Ortega se transformar num travesti político, declarando-se defensor da economia de mercado. Quanto à negação das atrocidades sandinistas, Pinter faria bem em lembrar o massacre dos índios misquitos, em 1981, na costa atlântica da Nicarágua. Sob a fachada de uma campanha de alfabetização, os sandinistas, com a ajuda de militares cubanos, tentaram doutrinar os misquitos com a ideologia marxista. Os índios recusaram-se a aceitar o controle sandinista. Acusando-os de apoiar os grupos de oposição baseados em Honduras, os homens de Ortega mataram cinqüenta índios, prenderam centenas e reassentaram à força outros tantos. O ganhador do Nobel deveria lembrar também que seu herói Ortega se tornou um capitalista milionário graças à distribuição dos ativos do governo e de propriedades confiscadas, que os líderes sandinistas repartiram entre si após a derrota nas eleições de 1990.
O entusiasmo com o populismo latino-americano se estende a jornalistas dos principais veículos de comunicação. Tome como exemplo algumas matérias escritas por Juan Forero, do Washington Post. Ele é mais equilibrado e informado do que os luminares mencionados acima, mas, de vez em quando, revela um estranho entusiasmo pelo populismo do tipo que está varrendo a região. Em um artigo recente sobre a generosidade estrangeira de Chávez, ele e seu colega Peter S. Goodman criaram uma imagem positiva da forma como Chávez ajuda alguns países a se desfazer da rigidez imposta por agências multilaterais quando emprestam dinheiro para essas nações poderem quitar suas dívidas. Defensores dessa política foram citados favoravelmente e nenhuma menção foi feita ao fato de que o dinheiro do petróleo da Venezuela pertence ao povo venezuelano, e não a governos estrangeiros ou entidades alinhadas com Chávez, ou que esses subsídios têm limitações políticas. É o que se vê no ataque do presidente da Argentina, Néstor Kirchner, aos Estados Unidos e na louvação a Chávez, respostas evidentes à promessa feita por Chávez de comprar novos bônus da dívida argentina.
O PROBLEMA COM O POPULISMO
Observadores estrangeiros estão deixando de compreender um ponto essencial: o populismo latino-americano nada tem a ver com justiça social. No início, no século XIX, era uma reação ao estado oligárquico na forma de movimentos de massa liderados por caudilhos, cujo mantra era culpar as nações ricas pela má situação da América Latina. Esses movimentos baseavam sua legitimidade no voluntarismo, no protecionismo e na maciça redistribuição de riqueza. O resultado, por todo o século XX, foram governos inchados, burocracias sufocantes, subserviência das instituições judiciais à autoridade política e economias parasitárias.
Populistas têm características básicas comuns: o voluntarismo do caudilho como um substituto da lei, a impugnação da oligarquia e sua substituição por outro tipo de oligarquia, a denúncia do imperialismo (com o inimigo sempre sendo os Estados Unidos), a projeção da luta de classes entre os ricos e os pobres para o terreno das relações internacionais, a idolatria do estado como uma força redentora dos pobres, o autoritarismo sob a aparência de segurança de estado e clientelismo, uma forma de paternalismo pela qual os empregos públicos – em oposição à geração de riqueza – são os canais de mobilidade social e uma forma de manter o voto cativo nas eleições. O legado dessas políticas é claro: quase metade da população da América Latina é pobre, com mais de um em cada cinco vivendo com 2 dólares ou menos por dia. E entre 1 milhão e 2 milhões de migrantes procurando os Estados Unidos e a Europa a cada ano em busca de uma vida melhor.
Mesmo na América Latina parte da esquerda está fazendo a transição, afastando-se da Idiotice – semelhante ao tipo de transição mental que a esquerda européia, da Espanha à Escandinávia, fez décadas atrás, quando, de má vontade, abraçou a democracia liberal e a economia de mercado. Na América Latina, pode-se falar em uma "esquerda vegetariana" e uma "esquerda carnívora". A esquerda vegetariana é representada por líderes como o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, e o presidente costa-riquenho, Oscar Arias. Apesar da retórica carnívora ocasional, esses líderes têm evitado os erros da antiga esquerda, como uma barulhenta confrontação com o mundo desenvolvido e a devassidão monetária e fiscal. Eles se adaptaram à conformidade social-democrata e relutam em fazer grandes reformas, mas apresentam um passo positivo no esforço para modernizar a esquerda.
Em contrapartida, a esquerda "carnívora" é representada por Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales e pelo presidente do Equador, Rafael Correa. Eles se prendem a uma visão marxista da sociedade e a uma mentalidade da Guerra Fria que separa o Norte do Sul e buscam explorar as tensões étnicas, particularmente na região andina. A sorte inesperada com o petróleo obtida por Hugo Chávez está financiando boa parte dessa empreitada. A gastronomia de Néstor Kirchner, da Argentina, é ambígua. Ele está situado em algum ponto entre os carnívoros e os vegetarianos. Desvalorizou a moeda, instituiu controles de preços e nacionalizou ou criou empresas estatais nos principais setores da economia. Mas tem evitado excessos revolucionários e pagou a dívida argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI), ainda que com a ajuda do crédito venezuelano. A posição ambígua de Kirchner tem ajudado Chávez, que preencheu o vácuo de poder no Mercosul para projetar sua influência na região.
Estranhamente, muitos europeus e americanos "vegetarianos" apóiam os "carnívoros" da América Latina. Um exemplo é Joseph Stiglitz, que tem defendido os programas de nacionalização na Bolívia de Morales e na Venezuela de Chávez. Numa entrevista para a rádio Caracol, da Colômbia, Stiglitz disse que as nacionalizações não deveriam causar apreensão porque "empresas públicas podem ser muito bem-sucedidas, como é o caso do sistema de pensões da Seguridade Social nos Estados Unidos". Stiglitz, porém, não defendeu a nacionalização das principais empresas privadas ou de capital aberto de seu país e parece ignorar que, do México para baixo, nacionalizações estão no centro das desastrosas experiências populistas do passado.
Stiglitz também ignora o fato de que na América Latina não há uma separação real entre as instituições do estado e o governo. Empresas estatais rapidamente se tornam canais para patronato político e corrupção. A principal empresa de telecomunicações da Venezuela tem sido uma história de sucesso desde que foi privatizada, no início dos anos 1990. O mercado de telecomunicações experimentou um crescimento de 25% nos últimos três anos. Em contrapartida, a gigante estatal de petróleo tem visto sua receita cair sistematicamente. A Venezuela produz hoje quase 1 milhão de barris de petróleo menos do que produzia nos primeiros anos desta década. No México, onde o petróleo também está nas mãos do governo, o projeto Cantarell, que representa quase dois terços da produção nacional, vai perder metade de seu rendimento nos próximos dois anos por causa da baixa capitalização.
É realmente importante o fato de que os intelectuais americanos e europeus matam sua sede pelo exótico promovendo idiotas latino-americanos? A resposta inequívoca é sim. Uma luta cultural está sendo deflagrada na América Latina – entre aqueles que querem colocar a região no firmamento global e vê-la emergir como um importante colaborador para a cultura ocidental, à qual seu destino está associado há cinco séculos, e aqueles que não conseguem aceitar essa idéia e resistem. Apesar de a América Latina ter experimentado algum progresso nos últimos anos, essa tensão está impedindo seu desenvolvimento em comparação com outras regiões do mundo – como o Leste Asiático, a Península Ibérica ou a Europa Central – que, há pouco tempo, eram exemplos de atraso. Nas últimas três décadas, a média de crescimento anual do PIB da América Latina foi de 2,8% – contra 5,5% do Sudeste Asiático e a média mundial de 3,6%.
Esse fraco desempenho explica por que quase 45% da população ainda está na pobreza e por que, depois de um quarto de século de regime democrático, pesquisas feitas na região revelam uma profunda insatisfação com instituições democráticas e partidos tradicionais. Enquanto o Idiota latino-americano não for relegado aos arquivos históricos – algo difícil de acontecer enquanto tantos espíritos condescendentes no mundo desenvolvido continuarem a lhe dar apoio –, isso não vai mudar.
* Álvaro Vargas Llosa é diretor do Centro para a Prosperidade Global do Instituto Independente, em Washington. Reproduzido por Veja com permissão do Foreign Policy nº 160 (maio/junho 2007) – www.foreignpolicy.com. Copyright 2007, Carnegie Endowment for Internacional Peace
24.3.07
Liberdade, direito, justiça e propriedade.

Colaboração de C. Mouro (19-03-2007)
Os clássicos liberais não se resumiam a defender a liberdade econômica, mas sim a liberdade, inclusive econômica. A idéia de liberdade, como já tantas vezes tentei explicar minha visão em textos longos e curtos, não pode se dissociar da idéia de direito e esta não se dissocia da idéia de justiça. Ou seja, a liberdade é um direito do indivíduo por ser justa, e justa é a igualdade de direitos individuais, de ação e reação (não é igualdade de resultados). Assim, se todos tem direito à liberdade, é a idéia do direito que permitirá equacionar a questão de modo que todos possam ser igualmente livres. De modo que o direito de um a algo nega a todos os demais o direito a esse algo ao mesmo tempo. Assim, tem-se o direito de propriedade e o direito de uso. De modo que propriedade é o direito permanente sobre algo e o de uso é o direito provisório. Explicando para evitar aporrinhadores parvos: um banco de praça é do direito de todos, porém ninguém tem direito de exigir que outro se levante para ele sentar, pois o primeiro está exercendo seu direito de uso, negando-o aos demais. A propriedade é um direito permanente sobre algo. Direito este reconhecido como justo ante um exame lógico da situação ou obtido mediante uma contrapartida acordada com quem o detém ou mediante critérios estabelecidos sem ferir qualquer direito alheio existente sobre algo.
A liberdade individual é um direito reconhecido mediante a percepção de que o arbítrio não se pode generalizar como critério, pois cada um poderia arbitrar em contrário a outros. Assim, a idéia de direito individual há que ser equânime, não podendo nela haver reivindicação de privilégio de qualquer ordem, pois tal atribuição se poderia dar por critérios arbitrários, de modo que qualquer indivíduo poderia reivindicar estabelecer os critérios, numa situação em que apenas a força maior seria capaz de arbitrar critérios da mesma forma que poderia arbitrar o próprio direito; ou seja, subjetivamente. Contudo, se o direito se pretende objetivo há que desprezar o arbítrio e partir da idéia de que cada indivíduo tem o mesmo direito de agir e reagir, sendo do seu direito o que advém de sua ação; também de seu direito é transferir seu direito a outros espontaneamente, cedendo aquilo que está no âmbito do seu direito. Ou seja, a liberdade como direito absoluto sobre si, é o pleno direito de propriedade sobre o próprio* corpo, considerando-se que mente e corpo não se podem separar, a mente é proprietária do corpo: o indivíduo. Esse direito sobre si presume responsabilidade pelas decisões concretizadas nas ações, não sendo cabível qualquer pleito para contestar decisões racionalmente concebidas ante a clareza dos fatos. Pois tal pleito levaria a julgar que o indivíduo é incapaz para a liberdade, devendo ficar sob a responsabilidade alheia, ou sob as decisões alheias, já que incapaz.
A idéia de liberdade, como inúmeras vezes já formulei, deriva do método lógico: um indivíduo solitário no mundo tem por direito o que lhe arbitrar a própria vontade. De modo que somente a natureza e seres irracionais poderiam se opor a sua vontade (estes incapazes de raciocínio que reconheça o direito alheio: capazes apenas de aprender e não descobrir por simulações mentais. Ou seja, podem apreender o direito como arbítrio que lhe é revelado por autoridade que admite a si superior). Seria idiota dizer que acidentes geográficos ou animais cerceiam o direito do indivíduo, ou a sua liberdade, pois se estaria com isso entendendo o direito como potência realizadora ou vontade concretizada, e não como liberdade do indivíduo para exercer sua capacidade natural ou por ela adquirida. Ou seja, direito não é a capacidade de realizar, mas sim a possibilidade de usufruir de suas potencialidades natas ou adquiridas pelo exercício destas. Assim, para o homem só no mundo, apenas os animais e acidentes geográficos podem impedi-lo de realizar sua vontade segundo seu potencial nato ou adquirido mediante uso deste, e isso não limita seu direito, pois apenas o direito alheio poderá faze-lo, e tem direito apenas quem é capaz de reconhecer e respeitar o direito alheio – justa é a reciprocidade.
Diante do exposto, pode-se perfeitamente entender que a existência de outro indivíduo com o mesmo direito do primeiro levaria a uma possível interseção nos domínios da vontade de cada um. Sendo assim, a idéia de direito passa(deveria) a estabelecer critérios racionais para reconhecer o direito dos indivíduos de modo a que tais interseções não ocorram. Pois que:
onde há ambiguidade não há verdade;
onde não há verdade não há justiça(*1);
onde não há justiça não há direito;
onde não há direito não há liberdade.
Ou seja, o arbítrio jamais produzirá justiça senão por mera coincidência. Assim, podemos perceber que a Liberdade de um indivíduo só pode ser violada por outro indivíduo, e não por animais ou ação da natureza. E desta forma, o direito de um indivíduo a algo PROÍBE direito dos demais a este algo ao mesmo tempo. Permitindo assim perceber que LIBERDADE É AUSÊNCIA E NÃO PRESENÇA: É AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO, OPRESSÃO E COERÇÃO.
Liberdade é o usufruto pleno do direito, é poder tudo sobre si, afinal o primeiro direito do indivíduo é a propriedade plena sobre seu *próprio corpo e tudo mais que da ação física ou mental deste for produzido. Desta forma, somente o próprio indivíduo pode justamente assumir obrigações (obriga ação) para com outros através de acordos (acordos criam obrigações morais objetivas – não são obrigações morais subjetivas/achistas).
Portanto, líderes, mentores ou lá o que for, não podem, sob a idéia da justiça, atribuir obrigações a nenhum indivíduo que antes não as tenha assumido. Logo, não podem atribuir direitos de uns sobre outros seja lá sob que pretensos “fins supremos” possam alegar; nem em nome da pátria, nem de deus, nem da solidariedade nem de porra nenhuma!
Obs.: (*1) – Julgamentos baseados em mentiras não poderão ser justos. Assim, podemos ver que o princípio das idéias de liberdade pode ser identificado como APENAS UM: que a liberdade é inalienável direito de todo indivíduo. (...e precavendo dos imbecis, ressalto: um indivíduo deve ser livre até para escravizar-se a outro, pois se assim se entrega livremente, não será escravo, pois exercendo a própria vontade sobre o que lhe é de direito. Por mais que outros possam entender a submissão voluntária como escravidão – Essa questão é muito mais importante do que se possa imaginar, desconsidera-la pode levar a submissão involuntária).
(Ilustração: "Pássaros no ar", Rebecca Barker).
21.3.07
O bebê e a água do banho
Publicado na Folha de São Paulo, edição de 21/03/2007.
EM ARTIGO intitulado "Procurando Rousseau, encontrando Chávez" ("Tendências/Debates", 7/3), opinei que a eventual implantação da reforma política sugerida ao governo pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) teria conseqüências nefastas. Meu texto suscitou algumas reações iradas e um substancioso comentário do professor Fábio Konder Comparato, fervoroso defensor do projeto, neste mesmo espaço da Folha ("Quem tem medo do povo?", 13/3).
Realmente, minha expectativa era que a OAB, com sua inegável autoridade, apontasse soluções realistas para os problemas de organização institucional que nos vêm há muito tempo afligindo, em particular o esvaziamento do Poder Legislativo, tema que obviamente envolve as questões éticas dramatizadas nos últimos dois anos e se estende aos partidos políticos e ao sistema eleitoral, entre outros aspectos. Infelizmente, o projeto OAB/Comparato optou por jogar fora o bebê com a água do banho. Descrendo quase totalmente da democracia representativa, o texto restringe drasticamente o espaço da representação e propõe um modelo que, à falta de melhor termo, eu denominaria "cesaro-anarquismo", um híbrido de princípios opostos, ambos levados ao paroxismo. Como seria a operacionalização prática de tal concepção?
Primeiro, o projeto eleva o arbítrio do Poder Executivo à enésima potência, conferindo ao presidente da República a prerrogativa de convocar plebiscitos sem ouvir o Congresso Nacional. Ora, a soma de poderes já atualmente concentrados no Executivo é de causar arrepios a quem quer que preze o equilíbrio e a independência mútua das instituições no regime democrático.
Para quebrar a espinha do Poder Legislativo, ele conta com as medidas provisórias; para desvitalizá-lo, com o Orçamento autorizativo; para humilhá-lo, com aquele "milhozinho" distribuído por meio de emendas parlamentares individuais. Para sufocar a economia e a capacidade privada de iniciativa, ele dispõe de numerosos instrumentos, desde logo o gasto público e a correspondente carga tributária, cujos níveis e qualidade atuais me dispenso de comentar.
Mas isso não é tudo.
Sem cometer a tolice de debitar tantos problemas na conta do atual governo, observo que o presidente Lula inicia seu segundo mandato com obedientes três quartos ou mais de apoio na Câmara, aliados carnais nas presidências da Câmara e do Senado e lúcida simpatia por parte dos governadores. E, aparentemente, já cogita se reforçar na área das comunicações, por meio de uma TV estatal.
No sentido oposto, o projeto institui a intervenção popular no processo decisório numa escala jamais praticada em nenhum país, por meio do chamado recall (revogação de mandatos por votação popular), instrumento não desprovido de lógica se aplicado em pequenas circunscrições eleitorais, com base no voto distrital puro, a fim de revogar mandatos de parlamentares, caso a caso. Mas a fórmula alvitrada pela OAB e pelo dr. Comparato vai muito além disso. Referendos revocatórios poderiam ser obrigatoriamente convocados pelo voto da maioria da Câmara ou mediante abaixo-assinados subscritos por 2% do total de eleitores. Para revogar qual ou quais mandatos? Resposta: todos. Tal engrenagem poderia ser acionada e mandar para casa, simultaneamente, todos os deputados e o próprio presidente da República (!) uma vez decorridos 12 meses das respectivas eleições. Nesse aspecto, é preciso convir que o egrégio colegiado da OAB operou prodígios. Transformou a antiquada espingardinha do recall numa "cortadora de margaridas", a temível "daisy cutter" que os americanos andaram despejando nos confins do Afeganistão.
Li e reli as ponderações do dr. Comparato com a atenção que merecem, mas não consegui exorcizar meus receios. Com a melhor das intenções, "ça va sans dire", o que o projeto me parece recomendar é um Executivo dotado de poderes ainda maiores que os atuais, com o contrapeso fiscalizador de um Legislativo reduzido à condição de pedinte andrajoso. Temo, realmente, que tais idéias desemboquem num populismo autoritário semelhante ao regime "bolivariano" do coronel Hugo Chávez, cujos supostos avanços democráticos recebem, aliás, rasgado elogio na justificação da proposta.
BOLÍVAR LAMOUNIER, 63, doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (EUA), é consultor de empresas. É autor de, entre outras obras, "Da Independência a Lula: Dois Séculos de Política Brasileira" (Augurium Editora, 2005).
EM ARTIGO intitulado "Procurando Rousseau, encontrando Chávez" ("Tendências/Debates", 7/3), opinei que a eventual implantação da reforma política sugerida ao governo pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) teria conseqüências nefastas. Meu texto suscitou algumas reações iradas e um substancioso comentário do professor Fábio Konder Comparato, fervoroso defensor do projeto, neste mesmo espaço da Folha ("Quem tem medo do povo?", 13/3).
Realmente, minha expectativa era que a OAB, com sua inegável autoridade, apontasse soluções realistas para os problemas de organização institucional que nos vêm há muito tempo afligindo, em particular o esvaziamento do Poder Legislativo, tema que obviamente envolve as questões éticas dramatizadas nos últimos dois anos e se estende aos partidos políticos e ao sistema eleitoral, entre outros aspectos. Infelizmente, o projeto OAB/Comparato optou por jogar fora o bebê com a água do banho. Descrendo quase totalmente da democracia representativa, o texto restringe drasticamente o espaço da representação e propõe um modelo que, à falta de melhor termo, eu denominaria "cesaro-anarquismo", um híbrido de princípios opostos, ambos levados ao paroxismo. Como seria a operacionalização prática de tal concepção?
Primeiro, o projeto eleva o arbítrio do Poder Executivo à enésima potência, conferindo ao presidente da República a prerrogativa de convocar plebiscitos sem ouvir o Congresso Nacional. Ora, a soma de poderes já atualmente concentrados no Executivo é de causar arrepios a quem quer que preze o equilíbrio e a independência mútua das instituições no regime democrático.
Para quebrar a espinha do Poder Legislativo, ele conta com as medidas provisórias; para desvitalizá-lo, com o Orçamento autorizativo; para humilhá-lo, com aquele "milhozinho" distribuído por meio de emendas parlamentares individuais. Para sufocar a economia e a capacidade privada de iniciativa, ele dispõe de numerosos instrumentos, desde logo o gasto público e a correspondente carga tributária, cujos níveis e qualidade atuais me dispenso de comentar.
Mas isso não é tudo.
Sem cometer a tolice de debitar tantos problemas na conta do atual governo, observo que o presidente Lula inicia seu segundo mandato com obedientes três quartos ou mais de apoio na Câmara, aliados carnais nas presidências da Câmara e do Senado e lúcida simpatia por parte dos governadores. E, aparentemente, já cogita se reforçar na área das comunicações, por meio de uma TV estatal.
No sentido oposto, o projeto institui a intervenção popular no processo decisório numa escala jamais praticada em nenhum país, por meio do chamado recall (revogação de mandatos por votação popular), instrumento não desprovido de lógica se aplicado em pequenas circunscrições eleitorais, com base no voto distrital puro, a fim de revogar mandatos de parlamentares, caso a caso. Mas a fórmula alvitrada pela OAB e pelo dr. Comparato vai muito além disso. Referendos revocatórios poderiam ser obrigatoriamente convocados pelo voto da maioria da Câmara ou mediante abaixo-assinados subscritos por 2% do total de eleitores. Para revogar qual ou quais mandatos? Resposta: todos. Tal engrenagem poderia ser acionada e mandar para casa, simultaneamente, todos os deputados e o próprio presidente da República (!) uma vez decorridos 12 meses das respectivas eleições. Nesse aspecto, é preciso convir que o egrégio colegiado da OAB operou prodígios. Transformou a antiquada espingardinha do recall numa "cortadora de margaridas", a temível "daisy cutter" que os americanos andaram despejando nos confins do Afeganistão.
Li e reli as ponderações do dr. Comparato com a atenção que merecem, mas não consegui exorcizar meus receios. Com a melhor das intenções, "ça va sans dire", o que o projeto me parece recomendar é um Executivo dotado de poderes ainda maiores que os atuais, com o contrapeso fiscalizador de um Legislativo reduzido à condição de pedinte andrajoso. Temo, realmente, que tais idéias desemboquem num populismo autoritário semelhante ao regime "bolivariano" do coronel Hugo Chávez, cujos supostos avanços democráticos recebem, aliás, rasgado elogio na justificação da proposta.
BOLÍVAR LAMOUNIER, 63, doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (EUA), é consultor de empresas. É autor de, entre outras obras, "Da Independência a Lula: Dois Séculos de Política Brasileira" (Augurium Editora, 2005).
23.1.07
Ética e ideologia
Ética e ideologia, ou, as duas éticas.
C. Mouro
Ética absoluta ou ética relativa, negativa ou positiva? ...As duas éticas(?), eis a questão! Concordo que é uma pretensão exagerada de minha parte me intrometer em questão de epistemologia, etimologia ou lá o que seja. Porém, se antes não explicitar meu ponto de vista, é provável que algo se perca no que pretendo comentar. Bem, por ética entendo o raciocínio que estuda os valores morais como princípios ideais da conduta humana. Também se dá como os princípios morais restritos a grupos específicos, formando um "código de ética". Ou seja, ética seria o estudo das possibilidades morais visando descobrir o que seria a moral ideal. Tal termo, na minha opinião, na ausência de outro, deveria ser mais específico do que me parece ser. Eu diria mesmo que ética deveria significar o estudo da justiça, ou então que se criasse um termo para tal significado, embora tenhamos o direito, já tão deturpado. Chego mesmo a discordar de sua utilização como moral específica, ou apêndice moral, para determinados grupos, na forma de "código de ética". Discordando de, por vezes, esta ser usada com viés escatológico e até etológico. (Peço vênia) .Na minha opinião a ética gera conceitos morais, anuindo ou não com os valores das morais possíveis, ou mesmo pode criar a moral baseada nas conclusões sobre o comportamento adequado.
Isto posto, digo que a ética a que me refiro nada tem com pretensos fins para a humanidade ou com grupos humanos, mas sim com o uso dos meios que os indivíduos utilizam para atingir umf im qualquer. Desta forma entendo que, como não poderia deixar de ser neste "mundo binário", que se possa conceber duas éticas: uma que visa combater o MAL e outra que visa aumentar o BEM. De modo que a primeira preconiza que o ser humano deva evitar sempre praticar o MAL. E neste caso o indivíduo deve ser punido quando pratica o MAL, sobretudo consciente; como recurso último, ante a impossibilidade de impedi-lo. Consentindo então que o MAL deva ser usado unicamente contra o MAL, visando impedi-lo, retribui-lo e desestimulá-lo, e sob nenhum outro pretexto mais. Já a segunda preconiza que o ser humano deva praticar sempre o BEM, e neste caso deve ser até punido, como recurso último, para coagi-lo, se não o pratica convencido, omitindo-se de fazê-lo sem motivos justificáveis ante a autoridade que o julga (e que detém o Poder de puni-lo). Consentindo então, esta segunda visão ética, que se pratique o MAL contra a omissão na prática do BEM. De forma que esta visão consente na prática do MAL, como recurso último, para induzir um BEM compensador. Ou seja, não preconiza a punição do MAL por ser ele um MAL, mas sim pelo fato de não ser um BEM, valendo o mesmo para a omissão. Portanto, para esta segunda ética, a posição neutra, ou omissa, é considerada também punível por não atuar em função do BEM, por mais que se o negue.
Temos então a ética com duas finalidades: coibir o MAL ou induzir ao BEM. Para a primeira, bom e respeitável é todo aquele que não pratica o MAL; mau e imputável é todo aquele que faz MAL a outros. Pela segunda visão, bom e respeitável é todo aquele que pratica o BEM; mau e imputável é todo aquele que não o faz. Ou seja, numa visão o responsável pelo MAL é aquele que o pratica, e, na outra, a ausência de ação favorável gratuita torna-se um tanto responsável pelo MAL alheio apenas por não fazer-lhe o BEM. Logo, para a "ética a favor do BEM" (ascética?) a honestidade não possui valor, mas apenas a "bondade", mesmo que realizada a custo de males afirmados menores, compensáveis pelo BEM maior assim considerado. Tolerando-se e até defendendo o MAL em nome do BEM. Contrariando a "ética contra o MAL" (estóica) que só tolera o MAL contra o MAL, a fim de eliminá-lo. É fácil perceber que, na visão da "ética contra o MAL", apenas o indivíduo que pratique o MAL contra qualquer outro que não o tenha antes praticado será considerado nocivo, mau e passível de punição. Logo, quem não pratica o MAL é absolutamente respeitável. É uma "ética absoluta" sem erro de interpretação. Quando muito poderia haver erro apenas na interpretação do que seja BEM ou MAL, embora de fácil metodologia para a perfeita compreensão deste. Ou seja, MAL é tudo aquilo que o indivíduo não quer para si, logo não lhe deve ser imposto. Neste caso, independente das interpretações alheias, quem decide o que é bom ou MAL para si é o próprio indivíduo, que não poderá impor sua visão a quaisquer outros sobre o que seja BEM ou MAL para estes. De forma que numa divergência inconciliável a separação, a não relação, é o último recurso: a inércia entre contrários: relações não obrigatórias, pois que estas constituem-se em MAL, pelo menos, para uma das partes (permanece a não relação existente ou acabaa relação: o respeito absoluto entre indivíduos, a não agressão é o princípio ante a idéia, que surge, de direito). Já na visão da "ética a favor do BEM" qualquer indivíduo que não pratique o BEM, podendo fazê-lo, será considerado mau e até punível, ou no mínimo moralmente inferior e um tanto menos respeitável. Assim a dupla prática torna complexo o julgamento, vez que a idéia de BEM maior pode justificar um MAL menor, segundo julgamentos ou afirmações pessoais (subjetivamente). Esta pretensão de ampliar o BEM faz com que se tolere um MAL considerado compensável pelo BEM que dele possa advir.
De forma que a visão do que seja MAL autoriza os indivíduos a interferirem na vida alheia, sob alegação de impor o BEM, mesmo que outros o considerem um MAL. É uma "ética relativa" com possibilidade de inúmeras interpretações quanto à intensidade compensável do MAL e compensadora do BEM. Podendo também haver erro na interpretação, sincera ou não, do que seja MAL, sem o princípio da inércia. E, neste caso, funesto que seja, a visão alheia é relegada a segundo plano ante a "obrigação" de praticar o BEM, assim entendido/estabelecido, mesmo contra a vontade de quem assim não o interpreta; então passível de coerção. Essa "ética relativa" tende a justificar os meios pelos fins, tornando um tanto problemáticas as relações humanas. Pois que a preconização de fins, até utópicos, tende a fazer com que se examine com menor rigor os meios propostos para alcançá-los. Com isso a possibilidade de fins desejáveis ou de aparência desejável, possíveis ou não, se sobrepõe ao julgamento dos meios que se propõe, ou apenas se pretende praticar, para supostamente atingi-los. Ou seja, PERDE-SE COMPLETAMENTE A IDÉIA DE JUSTIÇA, superando-a pela idéia, falsa ou não, do "BEM maior" como objetivo supremo, quiçá "justo". Favorecendo a tendência de considerar que os meios supostamente capazes de atingir tal objetivo supremo serão sempre "justos", pelo simples fato de se realizarem em nome de um "BEM maior", que poderá mesmo compensar o MAL deixado neste pretenso "caminho do BEM".
É fácil presumir que, o que chamo de "ética relativa" ou positiva, é responsável pela moral ideológica, uma vez que se entenda ideologia por uma análise das idéias, ou receitas, que poderão proporcionar o fim almejado, segundo a visão de quem as propõe ou deseja impô-las. Quando a ética concebe a idéia de ideal moral, pode fazê-lo visando os meios ideais de convivência entre os indivíduos ou visando um "fim supremo" pretensamente compensador. Então o"ideal social" será concebido como os meios justos para a convivência ou como o fim "mais justo" a ser alcançado, capaz de justificar injustiças compensáveis pelo bem que advirá. Portanto, na "ética relativa" a justiça dos meios se sujeita à idéia de um "objetivo supremo" que os justifique. Enquanto o que chamo de "ética absoluta" detém-se na análise da própria convivência, dos meios, independente de pretensos "objetivos supremos": só a conduta justa conduz ao resultado justo. Na"ética relativa", o objetivo "mais justo" determina a conduta "justa".
É fácil prever que quando os fins determinam os meios, então a priori "justos", muitos poderão conceber inúmeros ideais para tentarem justificar a moral que lhes convém ou que acreditam proporcionará os fins almejados como ideal, como "BEM compensador" ou "objetivo supremo", segundo a própria visão. É inegável que com tal visão de ética (relativa) proliferarãoi números "ideais redentores", que tentarão justificar inúmeras idéias oferecidas para atingi-los, desconsiderando-se completamente o indivíduo, que deverá então ser coagido para...um "ideal coletivo" ou "objetivo supremo". ... e eu já expus minha opinião sobre "coletivismo".
O fato é que um ou mais "objetivos supremos" darão origem a ideologias aparentadas(amplas ou restritas). Não raro funestas, para dizer o mínimo. Bom, quando utilizei as palavras "supostamente" e "pretenso", anteriormente, não o fiz por uma desconfiança preconceituosa e nem com a intenção de desqualificar intenções. Mas o fiz pelo fato de que meios propostos ou meramente efetivados sob a égide de se atingir "fins supremos", sobretudo em futuro incerto, podem conter em si erros de avaliação, por melhores que possam ser as intenções alardeadas com base na "ética relativa".
Ressalto aqui que segundo a "ética absoluta" esta questão inexiste, pois que por esta jamais haverão "fins supremos" que possam justificar quaisquer meios danosos, até pelo fato de esta se reportar unicamente ao MAL que se apresente, visando combatê-lo inclusive com um MAL contrário, independente de qualquer vislumbre de "um futuro sem MAL" ou de um "futuro utópico" a seduzir corações, sinceros ou não. Enfim, aquilo que chamo de "ética absoluta" só consente no MAL contra o MAL, e nunca no MAL em favor de um BEM compensador ou futuro venturoso, incerto ou não. Deste modo, o MAL jamais terá origem na "ética absoluta" , embora possa originar-se na"ética relativa", como podemos perceber observando a história de tantos "messias" salvadores que tantas desgraças produziram. ...e continuam a produzir.
Pretendia ainda falar de como a ética cria a idéia de valor do indivíduo, ante sua própria razão e para os demais. Seja por reconhecer-lhe a propensão para negar-se a prática do MAL ou para a prática do BEM. Estabelecendo uma escala para os valores e conceitos para os indivíduos, ante a própria razão e ante o julgamento dos demais, segundo a ética predominante. Parece-me que atualmente a benevolência é mais valorizada do que a honestidade. ...mas isso é um outro assunto. Isto posto, levanto a questão do MAL pelas ideologias.
C. Mouro
Ética absoluta ou ética relativa, negativa ou positiva? ...As duas éticas(?), eis a questão! Concordo que é uma pretensão exagerada de minha parte me intrometer em questão de epistemologia, etimologia ou lá o que seja. Porém, se antes não explicitar meu ponto de vista, é provável que algo se perca no que pretendo comentar. Bem, por ética entendo o raciocínio que estuda os valores morais como princípios ideais da conduta humana. Também se dá como os princípios morais restritos a grupos específicos, formando um "código de ética". Ou seja, ética seria o estudo das possibilidades morais visando descobrir o que seria a moral ideal. Tal termo, na minha opinião, na ausência de outro, deveria ser mais específico do que me parece ser. Eu diria mesmo que ética deveria significar o estudo da justiça, ou então que se criasse um termo para tal significado, embora tenhamos o direito, já tão deturpado. Chego mesmo a discordar de sua utilização como moral específica, ou apêndice moral, para determinados grupos, na forma de "código de ética". Discordando de, por vezes, esta ser usada com viés escatológico e até etológico. (Peço vênia) .Na minha opinião a ética gera conceitos morais, anuindo ou não com os valores das morais possíveis, ou mesmo pode criar a moral baseada nas conclusões sobre o comportamento adequado.
Isto posto, digo que a ética a que me refiro nada tem com pretensos fins para a humanidade ou com grupos humanos, mas sim com o uso dos meios que os indivíduos utilizam para atingir umf im qualquer. Desta forma entendo que, como não poderia deixar de ser neste "mundo binário", que se possa conceber duas éticas: uma que visa combater o MAL e outra que visa aumentar o BEM. De modo que a primeira preconiza que o ser humano deva evitar sempre praticar o MAL. E neste caso o indivíduo deve ser punido quando pratica o MAL, sobretudo consciente; como recurso último, ante a impossibilidade de impedi-lo. Consentindo então que o MAL deva ser usado unicamente contra o MAL, visando impedi-lo, retribui-lo e desestimulá-lo, e sob nenhum outro pretexto mais. Já a segunda preconiza que o ser humano deva praticar sempre o BEM, e neste caso deve ser até punido, como recurso último, para coagi-lo, se não o pratica convencido, omitindo-se de fazê-lo sem motivos justificáveis ante a autoridade que o julga (e que detém o Poder de puni-lo). Consentindo então, esta segunda visão ética, que se pratique o MAL contra a omissão na prática do BEM. De forma que esta visão consente na prática do MAL, como recurso último, para induzir um BEM compensador. Ou seja, não preconiza a punição do MAL por ser ele um MAL, mas sim pelo fato de não ser um BEM, valendo o mesmo para a omissão. Portanto, para esta segunda ética, a posição neutra, ou omissa, é considerada também punível por não atuar em função do BEM, por mais que se o negue.
Temos então a ética com duas finalidades: coibir o MAL ou induzir ao BEM. Para a primeira, bom e respeitável é todo aquele que não pratica o MAL; mau e imputável é todo aquele que faz MAL a outros. Pela segunda visão, bom e respeitável é todo aquele que pratica o BEM; mau e imputável é todo aquele que não o faz. Ou seja, numa visão o responsável pelo MAL é aquele que o pratica, e, na outra, a ausência de ação favorável gratuita torna-se um tanto responsável pelo MAL alheio apenas por não fazer-lhe o BEM. Logo, para a "ética a favor do BEM" (ascética?) a honestidade não possui valor, mas apenas a "bondade", mesmo que realizada a custo de males afirmados menores, compensáveis pelo BEM maior assim considerado. Tolerando-se e até defendendo o MAL em nome do BEM. Contrariando a "ética contra o MAL" (estóica) que só tolera o MAL contra o MAL, a fim de eliminá-lo. É fácil perceber que, na visão da "ética contra o MAL", apenas o indivíduo que pratique o MAL contra qualquer outro que não o tenha antes praticado será considerado nocivo, mau e passível de punição. Logo, quem não pratica o MAL é absolutamente respeitável. É uma "ética absoluta" sem erro de interpretação. Quando muito poderia haver erro apenas na interpretação do que seja BEM ou MAL, embora de fácil metodologia para a perfeita compreensão deste. Ou seja, MAL é tudo aquilo que o indivíduo não quer para si, logo não lhe deve ser imposto. Neste caso, independente das interpretações alheias, quem decide o que é bom ou MAL para si é o próprio indivíduo, que não poderá impor sua visão a quaisquer outros sobre o que seja BEM ou MAL para estes. De forma que numa divergência inconciliável a separação, a não relação, é o último recurso: a inércia entre contrários: relações não obrigatórias, pois que estas constituem-se em MAL, pelo menos, para uma das partes (permanece a não relação existente ou acabaa relação: o respeito absoluto entre indivíduos, a não agressão é o princípio ante a idéia, que surge, de direito). Já na visão da "ética a favor do BEM" qualquer indivíduo que não pratique o BEM, podendo fazê-lo, será considerado mau e até punível, ou no mínimo moralmente inferior e um tanto menos respeitável. Assim a dupla prática torna complexo o julgamento, vez que a idéia de BEM maior pode justificar um MAL menor, segundo julgamentos ou afirmações pessoais (subjetivamente). Esta pretensão de ampliar o BEM faz com que se tolere um MAL considerado compensável pelo BEM que dele possa advir.
De forma que a visão do que seja MAL autoriza os indivíduos a interferirem na vida alheia, sob alegação de impor o BEM, mesmo que outros o considerem um MAL. É uma "ética relativa" com possibilidade de inúmeras interpretações quanto à intensidade compensável do MAL e compensadora do BEM. Podendo também haver erro na interpretação, sincera ou não, do que seja MAL, sem o princípio da inércia. E, neste caso, funesto que seja, a visão alheia é relegada a segundo plano ante a "obrigação" de praticar o BEM, assim entendido/estabelecido, mesmo contra a vontade de quem assim não o interpreta; então passível de coerção. Essa "ética relativa" tende a justificar os meios pelos fins, tornando um tanto problemáticas as relações humanas. Pois que a preconização de fins, até utópicos, tende a fazer com que se examine com menor rigor os meios propostos para alcançá-los. Com isso a possibilidade de fins desejáveis ou de aparência desejável, possíveis ou não, se sobrepõe ao julgamento dos meios que se propõe, ou apenas se pretende praticar, para supostamente atingi-los. Ou seja, PERDE-SE COMPLETAMENTE A IDÉIA DE JUSTIÇA, superando-a pela idéia, falsa ou não, do "BEM maior" como objetivo supremo, quiçá "justo". Favorecendo a tendência de considerar que os meios supostamente capazes de atingir tal objetivo supremo serão sempre "justos", pelo simples fato de se realizarem em nome de um "BEM maior", que poderá mesmo compensar o MAL deixado neste pretenso "caminho do BEM".
É fácil presumir que, o que chamo de "ética relativa" ou positiva, é responsável pela moral ideológica, uma vez que se entenda ideologia por uma análise das idéias, ou receitas, que poderão proporcionar o fim almejado, segundo a visão de quem as propõe ou deseja impô-las. Quando a ética concebe a idéia de ideal moral, pode fazê-lo visando os meios ideais de convivência entre os indivíduos ou visando um "fim supremo" pretensamente compensador. Então o"ideal social" será concebido como os meios justos para a convivência ou como o fim "mais justo" a ser alcançado, capaz de justificar injustiças compensáveis pelo bem que advirá. Portanto, na "ética relativa" a justiça dos meios se sujeita à idéia de um "objetivo supremo" que os justifique. Enquanto o que chamo de "ética absoluta" detém-se na análise da própria convivência, dos meios, independente de pretensos "objetivos supremos": só a conduta justa conduz ao resultado justo. Na"ética relativa", o objetivo "mais justo" determina a conduta "justa".
É fácil prever que quando os fins determinam os meios, então a priori "justos", muitos poderão conceber inúmeros ideais para tentarem justificar a moral que lhes convém ou que acreditam proporcionará os fins almejados como ideal, como "BEM compensador" ou "objetivo supremo", segundo a própria visão. É inegável que com tal visão de ética (relativa) proliferarãoi números "ideais redentores", que tentarão justificar inúmeras idéias oferecidas para atingi-los, desconsiderando-se completamente o indivíduo, que deverá então ser coagido para...um "ideal coletivo" ou "objetivo supremo". ... e eu já expus minha opinião sobre "coletivismo".
O fato é que um ou mais "objetivos supremos" darão origem a ideologias aparentadas(amplas ou restritas). Não raro funestas, para dizer o mínimo. Bom, quando utilizei as palavras "supostamente" e "pretenso", anteriormente, não o fiz por uma desconfiança preconceituosa e nem com a intenção de desqualificar intenções. Mas o fiz pelo fato de que meios propostos ou meramente efetivados sob a égide de se atingir "fins supremos", sobretudo em futuro incerto, podem conter em si erros de avaliação, por melhores que possam ser as intenções alardeadas com base na "ética relativa".
Ressalto aqui que segundo a "ética absoluta" esta questão inexiste, pois que por esta jamais haverão "fins supremos" que possam justificar quaisquer meios danosos, até pelo fato de esta se reportar unicamente ao MAL que se apresente, visando combatê-lo inclusive com um MAL contrário, independente de qualquer vislumbre de "um futuro sem MAL" ou de um "futuro utópico" a seduzir corações, sinceros ou não. Enfim, aquilo que chamo de "ética absoluta" só consente no MAL contra o MAL, e nunca no MAL em favor de um BEM compensador ou futuro venturoso, incerto ou não. Deste modo, o MAL jamais terá origem na "ética absoluta" , embora possa originar-se na"ética relativa", como podemos perceber observando a história de tantos "messias" salvadores que tantas desgraças produziram. ...e continuam a produzir.
Pretendia ainda falar de como a ética cria a idéia de valor do indivíduo, ante sua própria razão e para os demais. Seja por reconhecer-lhe a propensão para negar-se a prática do MAL ou para a prática do BEM. Estabelecendo uma escala para os valores e conceitos para os indivíduos, ante a própria razão e ante o julgamento dos demais, segundo a ética predominante. Parece-me que atualmente a benevolência é mais valorizada do que a honestidade. ...mas isso é um outro assunto. Isto posto, levanto a questão do MAL pelas ideologias.
Assinar:
Postagens (Atom)