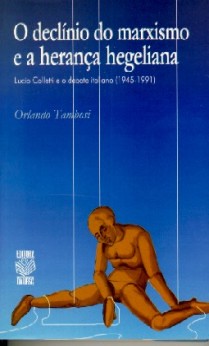Mary Anne Warren
1. Introdução
Será que as mulheres têm o direito de interromper uma gravidez não desejada? Ou estará o Estado habilitado (senão mesmo eticamente obrigado) a proibir o aborto intencional? Deverão alguns abortos ser permitidos enquanto outros não? O estatuto legal do aborto decorre diretamente do seu estatuto moral? Ou deverá o aborto ser legalizado, mesmo que seja algumas vezes, ou mesmo sempre, moralmente errado?
Estas questões suscitaram intensos debates ao longo das duas últimas décadas. Curiosamente, em grande parte do mundo industrializado o aborto não era considerado um crime até que uma série de leis antiaborto foram promulgadas durante a segunda metade de século XIX. Por essa altura, os proponentes da proibição do aborto realçavam os perigos clínicos do aborto. Por vezes também se argumentava que os fetos são seres humanos a partir do momento da concepção e, como tal, o aborto intencional seria uma forma de homicídio. Agora que os avanços médicos tornaram os abortos, quando corretamente efetuados, mais seguros que os partos, o argumento clínico perdeu toda a força que alguma vez possa ter tido. Conseqüentemente, o ponto central dos argumentos antiaborto mudou-se da segurança física das mulheres para o valor moral da vida do feto.
Quem defende o direito de as mulheres escolherem o aborto respondeu de diversas formas ao argumento antiaborto. Examinarei três linhas de argumentação da perspectiva do direito de escolha: 1) que o aborto deve ser permitido pois a proibição do aborto leva a conseqüências altamente indesejáveis; 2) que as mulheres têm o direito moral de escolher o aborto; e 3) que os fetos ainda não são pessoas e, como tal, ainda não têm um direito substancial à vida.
2. Argumentos conseqüencialistas a favor do aborto
Se avaliarmos a moralidade das ações pelas suas conseqüências, podemos construir um forte argumento contra a proibição do aborto. Ao longo dos tempos as mulheres têm vindo a pagar um terrível preço pela ausência de métodos contraceptivos e abortivos seguros e legais. Obrigadas a dar à luz muitos filhos a intervalos excessivamente curtos, as mulheres eram freqüentemente muito fracas e morriam jovens — um destino comum na maioria das sociedades anteriores ao século XX e, ainda hoje, em grande parte do Terceiro Mundo. A maternidade involuntária agrava a pobreza, aumenta as taxas de mortalidade nos bebês e nas crianças e obriga as famílias e os estados a grandes esforços econômicos.
O aperfeiçoamento dos métodos de contracepção veio aliviar de alguma forma estes problemas. No entanto, nenhuma forma de contracepção é ainda 100% eficaz. Além disso, muitas mulheres não têm acesso a qualquer tipo de contracepção, seja por não poderem pagar, ou por não se encontrar disponível no sítio onde vivem ou por não estar disponível a menores sem a autorização dos pais. Em quase todo o mundo, trabalhar por um salário tornou-se uma necessidade para muitas mulheres, tanto solteiras como casadas. As mulheres que têm de ganhar o seu sustento sentem a necessidade de controlar a sua fertilidade. Sem esse controlo é-lhes praticamente impossível obter o grau de educação necessário para um emprego digno, ou é-lhes impossível combinar as responsabilidades da maternidade com as do seu emprego. Isto é uma verdade tanto para as sociedades socialistas como para as capitalistas, pois em ambos os sistemas econômicos as mulheres têm de lutar com esta dupla responsabilidade de trabalhar em casa e fora de casa.
A contracepção e o aborto não garantem a autonomia reprodutiva pois muita gente não pode ter (ou adequadamente educar) qualquer criança, ou pelo menos tantas quantas desejariam; outras ainda são involuntariamente inférteis. No entanto, quer a contracepção quer o aborto são essenciais para as mulheres que queiram ter o mínimo de autonomia reprodutiva, algo que é perfeitamente possível nos dias de hoje.
A longo prazo, o acesso ao aborto é essencial para a saúde e sobrevivência não apenas das mulheres e das famílias, mas também dos próprios sistemas sociais e biológicos dos quais todos dependemos. Dada a insuficiência dos atuais métodos contraceptivos e a falta de acesso universal a esses métodos, se quisermos evitar um rápido crescimento populacional é necessário que se recorra a algumas práticas de aborto. A menos que as taxas de crescimento populacional diminuam nas sociedades empobrecidas em que estas continuam altas, a mal-nutrição e a fome crescerão para níveis ainda mais assustadores que os actuais. Até poderia haver comida suficiente para alimentar toda a população mundial, se ao menos aquela fosse mais eqüitativamente distribuída. Contudo, isto não permanecerá assim indefinidamente. A erosão dos solos e as alterações climatéricas causadas pela destruição das florestas e pelo consumo dos combustíveis fósseis ameaça reduzir a capacidade que a terra tem de produzir comida — talvez drasticamente — já na próxima geração.
Mesmo assim, os opositores do aborto negam que o aborto seja necessário para evitar tais conseqüências indesejáveis. Algumas gravidezes são causadas por violações ou incestos involuntários, mas a maior parte resulta aparentemente de comportamentos sexuais voluntários. Por conseguinte, os opositores do aborto afirmam freqüentemente que as mulheres que procuram abortar se "recusam a assumir responsabilidades pelos seus próprios atos." Segundo o seu ponto de vista, as mulheres deveriam evitar ter relações sexuais heterossexuais a menos que estivessem preparadas para levar a cabo uma gravidez daí resultante. Mas será esta uma exigência razoável?
As relações sexuais heterossexuais não são biologicamente necessárias para a sobrevivência ou para a saúde das mulheres — nem dos homens. Pelo contrário, as mulheres celibatárias ou homossexuais são menos vulneráveis a contrair cancro cervical, Aids, assim como outras doenças sexualmente transmissíveis. Nem sequer é claro que o sexo seja necessário para o bem-estar psicológico tanto das mulheres quanto dos homens, apesar de a crença em contrário ser generalizada. É, no entanto, algo que as mulheres acham extremamente agradável — um fato que é moralmente significativo para a maior parte das teorias conseqüencialistas. Além disso, faz parte do modo de vida escolhido pela maioria das mulheres em todo o lado. Em alguns sítios, as mulheres lésbicas estão a criar formas de vida alternativas que parecem servir melhor as suas necessidades. Mas para a maior parte das mulheres heterossexuais a escolha de um celibato permanente é muito difícil. Em grande parte do mundo é muito difícil a uma mulher solteira sustentar-se a si própria (quanto mais sustentar uma família); e as relações sexuais são normalmente um dos "deveres" da mulher casada.
Resumindo, o celibato permanente não é uma opção razoável para se impor à maioria das mulheres. E como todas as mulheres são potenciais vítimas de violação, mesmo as homossexuais ou celibatárias podem ter de enfrentar gravidezes não desejadas. Como tal, até que surja um método contraceptivo totalmente seguro e de confiança, disponível para todas as mulheres, a argumentação conseqüencialistas a favor do aborto permanecerá forte. Mas estes argumentos não convencerão aqueles que rejeitam as teorias morais consequencialistas. Se o aborto for intrinsecamente mau, como muitos acreditam, nesse caso não poderá ser defendido como um meio de evitar conseqüências indesejadas. Como tal, devemos procurar saber se as mulheres têm o direito moral de abortar.
3. Aborto e direitos das mulheres
Nem todos os filósofos morais acreditam na existência de direitos morais. Como tal, é importante que se diga algo acerca do que são os direitos morais; na secção 8 direi algo mais acerca da sua importância.
Os direitos não são entidades misteriosas que descobrimos na natureza; não são, na verdade, entidades de espécie alguma. Dizer que as pessoas têm o direito à vida é dizer, grosso modo, que ninguém deve ser morto deliberadamente ou privado do necessário para viver, a não ser que a única alternativa seja um mal muito maior. Os direitos não são absolutos, mas também não podem ser desprezados em favor de um qualquer bem aparentemente maior. Por exemplo, podemos matar em legítima defesa quando não existe outra hipótese de evitar sermos mortos ou gravemente feridos; mas não podemos matar outra pessoa simplesmente porque outros ganhariam alguma coisa com a sua morte.
Os direitos morais básicos são aqueles direitos que todas as pessoas têm, em contraste com os direitos que dependem de circunstâncias particulares, como por exemplo as promessas ou os contratos legais. Normalmente consideram-se direitos morais básicos o direito à vida, à liberdade, à autodeterminação, e o direito a não ser maltratado fisicamente. A proibição do aborto parece ir contra todos estes direitos morais básicos. A vida das mulheres é posta em perigo de pelo menos duas maneiras. Onde o aborto é ilegal, as mulheres escolhem freqüentemente abortar de modo ilegal e inseguro; a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 200 000 mulheres morrem todos os anos devido a estes abortos ilegais. Muitas outras morrem devido a partos involuntários, quando não encontram onde abortar, ou quando são pressionadas a não o fazer. É claro que os partos voluntários também acarretam um certo risco de morte; mas na ausência de qualquer tipo de coerção não existe violação do direito à vida da mulher.
A proibição do aborto também viola o direito das mulheres à liberdade, à autodeterminação e à integridade física. Ser forçada a dar à luz uma criança não é apenas um "inconveniente", como aqueles que se opõem ao aborto freqüentemente afirmam. Levar uma gravidez até ao fim é uma tarefa árdua e arriscada, mesmo quando é voluntária. Certamente que muitas mulheres desfrutam das suas gravidezes (pelo menos de grande parte destas); mas para aquelas que permanecem grávidas contra a sua vontade a experiência deverá ser completamente miserável. E a gravidez e o parto involuntários são apenas o início dos sofrimentos causados pela proibição do aborto. As mulheres têm ou de ficar com a criança ou entregá-la para adoção. Manter a criança pode impossibilitar a mulher de prosseguir a sua carreira profissional ou impedi-la de estar à altura das suas outras obrigações familiares. Entregar a criança significa que a mulher terá de viver com o triste fato de saber que tem um filho ou uma filha do qual não pode cuidar e, muitas vezes, nem sequer saber se está vivo e de boa saúde. Vários estudos sobre mulheres que entregaram os seus filhos para adoção demonstram que, para a maioria, a separação dos seus filhos é a causa de um sofrimento profundo e duradouro.
Mesmo que aceitemos que os fetos têm direito à vida, será difícil justificar a imposição de tantos sofrimentos a mulheres que não estão dispostas a suportá-los para salvaguarda da vida fetal. Como assinalou Judith Thomson no seu muito discutido artigo de 1971, "Uma Defesa do Aborto", em nenhum outro caso a lei obriga os indivíduos (que não foram condenados por nenhum crime) a sacrificar a sua liberdade, autodeterminação e integridade física por forma a preservarem a vida de outros. Talvez um caso análogo ao do parto involuntário seja o recrutamento militar obrigatório. No entanto, tal comparação apenas moderadamente apóia a posição antiaborto, dado que a justificabilidade do recrutamento militar obrigatório é discutível.
Segundo a opinião popular, principalmente nos Estados Unidos, a questão do aborto é freqüentemente encarada como, pura e simplesmente, um "direito que as mulheres têm de controlar o seu corpo." Se as mulheres têm o direito moral de abortar gravidezes não desejadas, nesse caso a lei não deve proibir o aborto. No entanto, os argumentos a favor deste direito não resolvem totalmente a questão moral do aborto. Pois uma coisa é ter um direito, outra é o exercício desse direito numa circunstância particular ser moralmente justificável. Se os fetos têm igual e total direito à vida, então nesse caso o direito que as mulheres têm em abortar apenas deverá ser exercido em circunstâncias extremas. E talvez devamos ainda perguntar se os seres humanos férteis — de qualquer um dos sexos — têm direito a ter relações sexuais quando não estão dispostos a ter uma criança e assumir as responsabilidades por ela. Se as atividades heterossexuais comuns custam a vida de milhões de "pessoas" inocentes (ou seja, fetos abortados), não deveríamos pelo menos tentar desistir dessas atividades? Por outro lado, se os fetos ainda não tiverem direito substancial à vida, nesse caso o aborto não será tão difícil de justificar.
4. Questões acerca do estatuto moral dos fetos
Em que altura do desenvolvimento de um ser humano é que ele ou ela começam a ter pleno direito à vida? A maior parte dos sistemas legais contemporâneos trata o nascimento como o ponto em que uma nova pessoa, no sentido legal, começa a existir. Como tal, o infanticídio é considerado uma forma de homicídio, enquanto que o aborto — mesmo onde é proibido — normalmente não. No entanto, à primeira vista, o nascimento parece um critério de estatuto moral totalmente arbitrário. Por que razão os seres humanos obtêm todos seus direitos morais básicos quando nascem e não numa qualquer outra altura, anterior ou posterior?
Muitos autores procuraram estabelecer um critério universal do estatuto moral, através do qual se distinguiriam as entidades que têm plenos direitos morais das que não têm quaisquer direitos morais, ou menos e diferentes direitos. Mesmo aqueles que preferem não falar de direitos morais podem sentir a necessidade de um critério de estatuto moral universalmente aplicável. Por exemplo, os utilitaristas precisam saber quais as entidades que têm interesses que devem ser considerados nos cálculos de utilidade moral, enquanto os deontólogos kantianos precisam saber o que tratar como fim em si mesmo e não simplesmente como meio para atingir determinado fim. Foram propostos muitos critérios de estatuto moral. Os mais comuns incluem a vida, a senciência (ter a capacidade de experiências, incluindo a de dor), a humanidade genética (identificação biológica à espécie Homo sapiens) e a personalidade (que será definida mais à frente).
Como escolher um de entre estes critérios de estatuto moral em conflito? Duas coisas são bem claras. Primeiro, não devemos encarar a seleção de um critério de estatuto moral como um simples caso de preferência pessoal. Os racistas, por exemplo, não têm o direito de reconhecer direitos morais somente aos membros do seu grupo racial, dado que nunca foram capazes de provar que os membros das raças "inferiores" carecem de uma qualquer característica considerada relevante para a atribuição de estatuto moral. Segundo, uma teoria do estatuto moral deve proporcionar uma descrição plausível do estatuto moral não apenas dos seres humanos, mas também dos animais, das plantas, dos computadores, de possíveis formas de vida extraterrestre e de tudo o mais que possa surgir. Irei argumentar que a vida, a senciência e a personalidade são todas elas relevantes para o estatuto moral, ainda que não da mesma maneira. Tomemos em consideração cada um destes critérios sucessivamente, começando pelo mais básico, ou seja, pela vida biológica.
5. A ética de "respeito pela vida"
Albert Schweitzer defendeu uma ética de respeito para todas as criaturas vivas. Segundo ele todos os organismos, dos micróbios aos seres humanos, têm uma "vontade de viver". Como tal, afirma, qualquer pessoa que tenha "o mínimo de sensibilidade moral considerará natural interessar-se pelo destino de todas as criaturas vivas". Schweitzer poderá ter errado ao afirmar que todas as criaturas vivas têm uma vontade de viver. A vontade é mais facilmente explicada em termos de uma faculdade que requer pelo menos algumas capacidades de pensamento e que, por isso mesmo, é pouco provável que exista em organismos simples sem sistema nervoso central. Talvez a pretensão de que todos as criaturas vivas partilham uma vontade de viver seja uma afirmação metafórica do fato de os organismos estarem teleologicamente organizados, de tal modo que geralmente atuam de modo a promover a sua própria sobrevivência ou da sua espécie. Mas por que razão deverá este fato levar-nos a sentir respeito por todas as formas de vida?
Na minha opinião, a ética de respeito pela vida retira a sua força de preocupações ecológicas e estéticas. A destruição de criaturas vivas danifica freqüentemente aquilo que Aldo Leopold chamou a "integridade, estabilidade e beleza da comunidade biótica." Proteger a comunidade biótica de danos desnecessários é um imperativo moral, não apenas para o bem da humanidade, mas também porque o mundo natural merece ser preservado intacto.
O respeito pela vida sugere que, sendo as outras criaturas iguais, é sempre melhor evitar matar uma criatura viva. Mas Schweitzer tinha a noção que nem todas as mortes podem ser evitadas. Defendia que nunca se deveria matar sem uma boa razão e certamente que nunca por desporto ou diversão. Assim, de uma ética de respeito por toda a vida não se segue necessariamente que o aborto seja moralmente errado. Os fetos humanos são criaturas vivas, assim como os óvulos não fecundados e os espermatozóides. Todavia, muitos dos abortos podem ser entendidos como um matar "compelido por uma necessidade compulsiva".
6. Humanidade genética
Os opositores do aborto dirão que é errado abortar não apenas porque os fetos humanos estão vivos, mas porque são humanos. No entanto, por que razão deveremos nós acreditar que a destruição de um organismo humano vivo é sempre moralmente pior que a destruição de um organismo de outra espécie qualquer? A pertença a uma espécie biológica em particular não parece, em si, um fator mais relevante para o estatuto moral que a pertença a uma raça ou sexo em particular.
É um acidente da evolução e da história que toda a gente a quem atualmente reconhecemos plenos direitos morais pertença a uma única espécie biológica. As "pessoas" do planeta Terra poderiam muito bem ter pertencido a muitas outras espécies diferentes — e na verdade talvez pertençam. É bem possível que alguns animais não humanos, tais como os golfinhos, as baleias e os grandes símios, tenham suficientes capacidades "humanas" para serem corretamente considerados pessoas — ou seja, seres capazes de raciocínio, consciência, relacionamento social e reciprocidade moral. Alguns filósofos contemporâneos consideram que (alguns) animais não humanos têm essencialmente os mesmo direitos morais básicos que as pessoas humanas. Quer estejam certos ou errados, é sem dúvida parcialmente verdade que qualquer estatuto moral superior atribuído aos membros da nossa própria espécie deve ser justificado em termos de diferenças moralmente significativas entre os seres humanos e as outras criaturas vivas. Defender que a espécie por si só nos fornece a base para um estatuto moral superior é arbitrário e vão.
7. O critério da senciência
Alguns filósofos defendem que a senciência é o critério primordial no que se refere à atribuição de estatuto moral. A senciência é a capacidade de ter experiências — por exemplo, experiências visuais, auditivas, olfactivas, ou outras experiências perceptivas. No entanto, a capacidade de sentir prazer e dor parece ser particularmente pertinente para o estatuto moral. É um postulado aceite pelas éticas utilitaristas que o prazer é intrinsecamente bom e a dor intrinsecamente má. Na verdade, a capacidade de sentir dor é freqüentemente uma mais-valia para o organismo, habilitando-o a evitar ferimentos ou a sua própria destruição. Por outro lado, a longo prazo, alguns prazeres podem ser prejudiciais para o organismo. Não obstante, podemos dizer que os seres sencientes têm um interesse basilar em sentir prazer e em evitar a dor. O respeito por este interesse fundamental é o cerne das éticas utilitaristas.
O critério da senciência sugere que, em igualdade de circunstâncias, é moralmente pior matar um organismo senciente que um organismo não senciente. A morte de um ser senciente, mesmo quando indolor, priva-o de quaisquer experiências agradáveis que pudesse vir a desfrutar no futuro. Assim, a morte é tida como um infortúnio maior para esse ser do que para um ser não senciente.
Mas como podemos saber quais são os organismos vivos sencientes? Bem, quanto a isso, como podemos saber que os seres não vivos, tais como as rochas ou os rios, não são sencientes? Se esse conhecimento requer a absoluta impossibilidade de erro, então provavelmente nunca saberemos a resposta. Mas aquilo que de fato sabemos indica claramente que a senciência requer um sistema nervoso central funcional — que está ausente nas rochas, nas plantas e nos microorganismos simples. Esse sistema nervoso central também está ausente nos fetos com poucas semanas. Muitos neurofisiologistas acreditam que os fetos humanos normais começam a ter uma certa senciência rudimentar pelo segundo trimestre da gravidez. Antes dessa fase, os seus cérebros e órgãos sensoriais estão demasiado subdesenvolvidos para permitirem a ocorrência de sensações. As provas comportamentais apontam na mesma direção. No fim do primeiro trimestre o feto pode já ter alguns reflexos inconscientes, mas ainda não responde ao seu ambiente de uma forma que sugira sensibilidade. No entanto, no terceiro trimestre algumas partes do cérebro do feto estão já funcionais e o feto pode reagir a barulhos, luz, pressão, movimento e outros estímulos sensíveis.
O critério da senciência apóia a crença comum de que o aborto tardio é mais difícil de justificar que o aborto feito ainda no inicio da gravidez. Ao contrário do feto pré-senciente, um feto no terceiro trimestre da gravidez é já um ser — ou seja, já é um centro de sensações. Se for morto, pode sentir dor. Além disso, a sua morte (como a de qualquer ser senciente) será o fim de uma corrente de sensações, algumas das quais poderão ter sido agradáveis. Na realidade, o uso deste critério sugere que o aborto não coloca qualquer questão moral séria quando é efetuado cedo, ao menos no que diz respeito ao impacto no feto. Enquanto organismo vivo mas não senciente, o feto no primeiro trimestre ainda não é um ser com interesse numa vida continuada. Como o óvulo não fecundado, pode ter o potencial de se tornar um ser senciente. Mas isto apenas significa que tem o potencial de se tornar num ser com interesse numa vida continuada, não significa que já tenha esse interesse.
Se por um lado o critério da sensibilidade implica que o aborto tardio é mais difícil de justificar que o aborto nas primeiras semanas da gravidez, tal não significa que o aborto tardio seja tão difícil de justificar quanto o homicídio. O princípio de respeito pelos interesses dos seres sencientes não implica que todos os seres sencientes tenham um igual direito à vida. Para vermos por que isto é assim temos de pensar um pouco mais no alcance deste princípio.
A maior parte dos animais vertebrados adultos (mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes) são claramente sencientes. É também bastante provável que muitos animais invertebrados, tais como os artrópodes (ou seja, insetos, aranhas e caranguejos), sejam sencientes. Pois também eles têm órgãos sensoriais, sistemas nervosos e comportam-se freqüentemente como se pudessem ver, ouvir e sentir bastante bem. Se a senciência é o critério de estatuto moral, nesse caso nem sequer uma mosca deveria ser morta sem uma boa razão.
Mas o que conta como um motivo suficientemente bom para matar uma criatura viva cuja principal reivindicação para o seu estatuto moral é a sua provável senciência? Os utilitaristas geralmente defendem que os atos são moralmente errados se aumentarem a quantidade total de dor ou sofrimento existentes no mundo (sem que esse aumento de dor seja compensado com um aumento da quantidade total de prazer ou felicidade), ou vice-versa. Mas a morte de um ser senciente nem sempre tem tais conseqüências adversas. Em qualquer ambiente há espaço para apenas um número finito de organismos de uma determinada espécie. Quando um coelho é morto (de um modo mais ou menos doloroso) é provável que outro coelho tome o seu lugar, portanto a quantidade total de "felicidade coelhar" não diminui. Além disso, os coelhos, como muitas outras espécies que se reproduzem rapidamente, têm de ser caçadas por outras espécies para que a saúde do sistema biológico seja preservada.
Assim, sob a perspectiva utilitarista, a morte de seres sencientes não é sempre um mal. Contudo, seria moralmente ofensivo sugerir que as pessoas podem ser mortas simplesmente porque existem em grande número e, como tal, perturbam o meio ambiente. Se matar pessoas é mais difícil de justificar do que matar coelhos — como até os mais radicais defensores dos direitos dos animais acreditam — deve ser porque as pessoas têm um estatuto moral que não se baseia simplesmente na sensibilidade. No próximo capítulo analisaremos alguns dos possíveis argumentos deste ponto de vista.
8. Personalidade e direitos morais
Uma vez ultrapassada a infância, os seres humanos possuem não apenas a capacidade de sentir, mas também capacidades mentais "superiores", tais como consciência de si e racionalidade. São ainda seres altamente sociais, capazes de — exceto em casos patológicos — amar, educar os filhos, cooperar e responsabilizarem-se moralmente (o que implica a capacidade de orientarem as suas ações através de ideais e princípios morais). Talvez estas capacidades sociais e mentais nos possam dar razões sólidas para atribuirmos às pessoas um direito à vida mais forte do que aos outros seres sencientes.
Um argumento a favor desta conclusão diz-nos que estas capacidades distintivas das pessoas permitem-lhes valorizar as suas próprias vidas e as dos outros membros da sua comunidade de um modo que os restantes animais não fazem. As pessoas são os únicos seres que planeiam o seu futuro distante e também os únicos que vivem freqüentemente assombrados pelo medo de uma morte prematura. Talvez isto signifique que uma pessoa valoriza mais a sua vida que um ser senciente que não é uma pessoa. Se assim for, matar uma pessoa é um mal moral muito maior que matar um ser senciente que não é uma pessoa. Mas também pode acontecer que a ausência de medo do futuro torne a vida dos seres sencientes que não são pessoas mais agradável e mais valiosa para eles, que as nossas vidas para nós. Como tal, temos de procurar noutro lado uma explicação racional para o estatuto moral superior que a maioria das pessoas (humanas) atribuem umas às outras.
Falar dos direitos morais é um modo de falar acerca de como devemos agir. É evidente que somente as pessoas compreendem a idéia de direito moral, mas isso não nos torna "melhores" que os outros seres sencientes. No entanto, dá-nos algumas razões convincentes para nos tratarmos uns aos outros como semelhantes morais, com direitos básicos que não podem ser desprezados por razões estritamente utilitaristas. Se não pudéssemos acreditar que os outros não estão dispostos a assassinar-nos sempre que julguem que da nossa morte poderá resultar um qualquer tipo de bem, as relações sociais tornar-se-iam incomensuravelmente mais difíceis e as vidas de todos, com exceção dos mais poderosos, empobreceriam imenso.
Uma pessoa moralmente sensível respeitará todas as formas de vida e procurará não infligir dor ou matar sem necessidade outros seres sencientes. No entanto, respeitará os direitos morais básicos de outras pessoas como ela, não apenas porque estão vivas e são sencientes, mas também porque pode esperar e exigir que demonstrem em relação a ela o mesmo respeito. Os ratos e os mosquitos não são capazes desta reciprocidade moral — pelo menos não nos seus relacionamentos com os seres humanos. Quando os seus interesses entram em conflito com os nossos, não podemos esperar que um argumento moral os convença a aceitar um compromisso razoável. Assim, é quase sempre impossível conceder-lhes um estatuto moral igual ao nosso. Mesmo a religião Jain na Índia, que considera o ato de matar qualquer ser um obstáculo à iluminação espiritual, não exige que tal ato seja evitado em qualquer circunstância, excetuando nos casos daqueles que professaram votos religiosos especiais.
Se a capacidade de reciprocidade moral é essencial para a personalidade, e se a personalidade é o critério para a igualdade moral, então os fetos humanos não satisfazem esse critério. Os fetos sencientes estão mais próximos de serem pessoas do que os óvulos fertilizados ou do que os fetos com poucas semanas e, à custa disso, poderão ganhar um certo estatuto moral. No entanto, ainda não são seres com raciocínio e consciência de si, capazes de amor e reciprocidade moral. Estes fatos apóiam o ponto de vista de que até mesmo o aborto tardio não equivale a homicídio. Com base nisto, podemos razoavelmente concluir que o aborto de fetos sencientes pode por vezes ser justificado por razões que não poderiam nunca justificar a morte de uma pessoa. Por exemplo, o aborto tardio pode por vezes encontrar justificação numa severa anomalia do feto, ou no perigo que a gravidez acarreta para a mulher, ou quaisquer outros sofrimentos pessoais.
Infelizmente esta discussão não pode terminar aqui. A personalidade é importante como um critério de igualdade moral inclusivo: qualquer teoria que negue um estatuto moral igual a certas pessoas deve ser rejeitada. No entanto, a personalidade parece de alguma forma menos credível enquanto critério exclusivo, uma vez que parece excluir crianças e indivíduos com deficiências mentais que não tenham as capacidades mentais e sociais características das pessoas. Além disso — como sublinham os opositores do aborto — a história demonstra que é com muita facilidade que os grupos dominantes racionalizam a opressão declarando, com efeito, que as pessoas oprimidas não são realmente pessoas, devido a uma suposta deficiência mental ou moral.
Tendo em conta isto, poderá ser sensato adotar a teoria segundo a qual todos os seres humanos sencientes têm direitos morais básicos plenos e iguais. (Para evitarmos uma atitude "especista", podemos conceder o mesmo estatuto moral aos seres sencientes de qualquer outra espécie cujos membros adultos normais acreditamos serem pessoas.) Segundo esta teoria, desde que um indivíduo seja ao mesmo tempo humano e senciente, a sua igualdade moral não pode ser questionada. Porém, existe uma objeção quanto à atribuição de estatuto moral igual aos fetos, mesmo no que concerne aos fetos sencientes: é impossível na prática atribuir direitos morais iguais aos fetos sem se negar esses mesmo direitos às mulheres.
9. O nascimento tem importância moral?
Existem muitos casos em que os direitos morais de diferentes indivíduos entram aparentemente em conflito. Por regra, tais conflitos não podem ser resolvidos de um modo justo negando-se simplesmente estatuto moral a uma das partes. A gravidez, porém, é um caso à parte. Devido à relação biológica única entre os dois, a atribuição de um estatuto moral e legal ao feto idêntico ao da mulher tem consequências perversas para os direitos básicos desta.
Uma das conseqüências é que o aborto "a pedido" não seria permitido. Se a sensibilidade é o critério, então o aborto só seria permitido no primeiro trimestre. Há quem diga que este é um compromisso razoável, uma vez que dá tempo suficiente à mulher para descobrir que está grávida e decidir se quer ou não abortar. No entanto, certos problemas relativos a uma má formação do feto, à saúde da mulher, ou à sua situação pessoal ou econômica, por vezes só aparecem ou se agravam numa altura mais avançada da gravidez. Se se partir do princípio que os fetos têm os mesmo direitos morais do que os seres humanos já nascidos, então a mulher será freqüentemente pressionada a continuar grávida mesmo tendo em conta os riscos para a sua vida, saúde, ou bem-estar pessoal. Poderá mesmo ser forçada a submeter-se, contra a sua vontade, a procedimentos médicos perigosos e agressivos (uma cesariana, por exemplo) sempre que outros considerem que tal seria benéfico para o feto. (Inúmeros casos desses já ocorreram nos Estados Unidos.) Assim, a atribuição de plenos direitos morais básicos aos fetos ameaça os direitos básicos da mulher.
Mesmo assim, tendo em conta estes conflitos entre os direitos do feto e os direitos das mulheres, podemos sempre perguntar por que motivo deverão ser os direitos da mulher a prevalecer. Por que não favorecer antes os fetos, seja porque são mais indefesos, ou porque têm uma maior esperança de vida? Ou por que não procurar um compromisso entre direitos fetais e direitos maternais, com iguais concessões de ambos os lados? Se os fetos fossem já pessoas, no sentido acima descrito, seria arbitrário favorecer os direitos das mulheres sobre os deles. Mas é difícil afirmar que quer os fetos quer os recém-nascidos sejam pessoas nesse sentido, visto que as capacidades de raciocínio, consciência de si e reciprocidade moral e social parecem desenvolver-se apenas depois do nascimento.
Por que razão, então, devemos nós tratar o nascimento, em vez de algum outro ponto posterior, como o limiar da igualdade moral? A principal razão é que o nascimento torna possível a atribuição de direitos morais básicos à criança sem que se viole os direitos morais básicos de outrem. Em muitos países, é possível encontrar boas famílias de adoção para as crianças cujos pais biológicos não têm condições ou não os querem educar. Uma vez que todos desejamos vigorosamente proteger as crianças, e como hoje em dia podemos fazê-lo sem impor demasiados sofrimentos às mulheres e às famílias, não existe qualquer razão para não o fazermos. Mas os fetos são diferentes: considerá-los iguais seria considerar as mulheres desiguais. Sendo a outra criatura igual, é pior negar direitos morais básicos a seres que claramente ainda não são pessoas. Mas visto que as mulheres são pessoas e os fetos não, em caso de conflito, devemos procurar respeitar primeiro os direitos das mulheres.
10. Personalidade potencial
Alguns filósofos afirmam que, apesar de os fetos não serem pessoas, o seu potencial para se tornarem pessoas dá-lhes os mesmo direitos morais básicos. Este argumento não é aceitável, uma vez que em nenhum outro caso tratamos o potencial de atingir certos direitos como se implicasse, por si, esses mesmos direitos. Por exemplo, todas as crianças nascidas nos Estados Unidos são um eleitor em potência, mas ninguém com menos de dezoito anos tem direito a votar nesse país. Além disso, o argumento da potencialidade prova demasiado. Se o feto é uma pessoa em potência, então também o é um óvulo humano não fecundado, juntamente com a quantidade de esperma necessária para efetuar a fecundação; no entanto, muito pouca gente concordará em atribuir a estas entidades vivas pleno estatuto moral.
Mesmo assim, o argumento da personalidade potencial do feto recusa-se a desaparecer. Talvez porque essa potencialidade inerente aos fetos é freqüentemente uma forte razão para valorizar e proteger os fetos. A partir do momento em que uma mulher grávida se comprometa a cuidar do feto, ela e aqueles que lhe estão próximos seguramente que terão tendência a pensar no feto como um "bebê por nascer", e a valorizá-lo pelo seu potencial. O potencial do feto encontra-se não só no seu ADN, mas também nesse compromisso maternal (e paternal). A partir do momento em que a mulher se empenha na sua gravidez, é bom que ela valorize o feto e proteja o seu potencial — como a maioria das mulheres o faz, sem qualquer tipo de coerção legal. Mas está errado exigir a uma mulher que complete uma gravidez quando esta não pode ou não quer levar a cabo esse enorme compromisso.
11. Sumário e conclusão
O aborto é muitas vezes encarado como se fosse uma questão de direitos apenas do feto; e outras vezes como se fosse uma questão de direitos apenas da mulher. A proibição de um aborto seguro e legal viola os direitos da mulher à vida, à liberdade e à integridade física. Se o feto tivesse o mesmo direito à vida do que uma pessoa, o aborto seria, ainda assim, um acontecimento trágico e de difícil justificação, exceto nos casos mais extremos. Como tal, mesmo os defensores dos direitos das mulheres devem preocupar-se com o estatuto moral dos fetos.
Nem mesmo uma ética de respeito por todas as formas de vida exclui toda a morte intencional. O ato de matar requer sempre uma justificação, e é um tanto ou quanto mais difícil justificar a destruição deliberada de um ser senciente que a de uma criatura viva que não é (ainda) um centro de sensações; mas os seres sencientes não têm todos os mesmos direitos. A atribuição de um estatuto moral aos fetos idêntico ao das mulheres ameaça os direitos morais mais básicos destas. Ao contrário dos fetos, as mulheres já são pessoas. Elas não devem ser tratadas como algo menos simplesmente porque estão grávidas. É por isso que o aborto não deve ser proibido, e é também por isso que o nascimento, e não qualquer outro ponto anterior, marca o começo do estatuto moral pleno.
Mary Anne Warren
Referências
Jaini, P.: The Jaina Path of Purification (Berkeley: University of California Press, 1979).
Leopold, A.: A Sand County Almanac (New York: Ballantine Books, 1970).
Schweitzer, A.: The Teaching of Reverence for Life, trad. R. and C. Winston (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965).
Thomson, J.J.: "A defense of abortion", Philosophy and Public Affairs I:I (Fall 1971), 47-66.
Outras Leituras
Feinberg, J., ed.: The Problem of Abortion (Belmont, Cal.: Wadsworth Publishing Company, 1984).
Goldstein, R.D.: Mother-Love and Abortion: A Legal Interpretation (Berkeley: University of California Press, 1988).
Harrison, B.W.: Our Right to Choose: Toward a New Ethic of Abortion (Boston: Beacon Press, 1983).
Mohr, J.C.: Abortion in America: The Origins and Evolution of National Policy, 1800-1900 (Oxford: Oxford University Press, 1978).
Regan, T.: The Case for Animal Rights (Berkeley: University of California Press, 1983).
Singer, P.: Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals (New York: Avon Books, 1975) (trad. port.: Libertação Animal, Porto: Via Optima, 2000).
Sunner, L.W.: Abortion and Moral Theory (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981).
Tooley, M.: Abortion and Infanticide (Oxford: Oxford University Press, 1983).
Tradução de Tomás Magalhães Carneiro.
Artigo retirado de A Companion To Ethics, org. por Peter Singer (Blackwell, 1993, pp. 303-314), publicado originalmente na revista eletrônica Crítica, de Lisboa.
1.12.06
29.11.06
A favor da ecologia ou contra o progresso?
¿Ecologismo o Antiprogresismo?
Por Lic. Luis Anastasía (*)
Si analizamos los movimientos ecologistas o ambientalistas vemos que son diversos en sus concepciones y objetivos. Por un lado están aquellos que, partiendo desde una consideración antropocéntrica, toman como una responsabilidad cuidar el ambiente para las generaciones futuras. No hay ninguna duda que todos nosotros, como individuos responsables, debemos hacer de esta posición una forma de vida y actuar en consecuencia.
Por otro lado, en el extremo opuesto, el ecologismo más duro rechaza el antropocentrismo y ve a la humanidad como una verdadera peste para la naturaleza. Basados en una visión malthusiana del mundo, anuncian continuas catástrofes ambientales asociadas indefectiblemente al desarrollo e identifican como culpables a los sistemas económicos y políticos que lo permiten.
Ambas posiciones tienen en común establecer una relación emocional con el ambiente, pero mientras la primera es moderada en sus acciones o en su mayoría es pasiva y receptora, la posición más radical y actora apela a difundir información falsa, tergirversada o sacada de contexto para justificar el conflicto que es necesario para sostener su propia existencia. Así apela directamente a la incertidumbre y al miedo que siembran describiendo un presente negro y un futuro espantoso. Pero como la realidad, esa terca realidad, no se ajusta a lo que describen recurren entonces a descalificar todo lo que pueda provenir de las empresas. De esa manera bloquean anticipadamente la difusión de información y datos que puedan ser inconvenientes para sus intereses. Siempre prevalece en la prensa sus ''denuncias y luchas'' por la calidad ambiental, pero cuando se demuestra que mienten ya pierde interés para su difusión.
Y como ahora parece que ni siquiera esa estrategia es suficiente ahora se han dedicado sistemáticamente, desde la escalada del conflicto por la instalación de las celulosas, a descalificar sin ningún escrúpulo al sistema legal de protección del ambiente que se aplica en el país y a la capacidad técnica de los especialistas privados y estatales que son los responsables, en definitiva, que Uruguay tenga una posición tan alta en el panorama mundial en cuanto al cuidado ambiental.
De forma reiterada y en absoluto justificada sostienen que la DINAMA no tiene técnicos y no da garantías. Insisten en que las industrias contaminan de una forma irremediable, que provocan cáncer, enfermedades crónicas, malformaciones, lluvia ácida, aún cuando las industrias se ajusten a las más estrictas normativas de control ambiental. Recurren a esas consecuencias para llegar de una forma más fácil al impacto emocional. No lo prueban, simplemente lo dicen y lo sostienen en una muy eficiente campaña porque logran perfectamente su objetivo: transforman una mentira en un mito y luego deviene verdad absoluta.
Por supuesto que la actividad forestal que se está desarrollando desde hace lustros en el país no se iba a librar de la lucha opositora de los ambientalistas. Esta actividad permite el desarrollo y por lo tanto es opuesto a los intereses de estos grupos. Lo asocian con todo lo que ellos combaten y lo definen ridículamente como el cultivo neoliberal o árbol fascista.
Pero como no pueden decir que el eucalipto provoca cáncer, enfermedades o toda la reiterada y monótona batería de argumentos, entonces lo asocian a otro aspecto de especial sensibilidad como el agua, necesaria para toda forma de vida, acusando a la forestación de provocar desiertos.
El grupo Guayubira se ha erigido como el movimiento emblemático en la lucha contra las industrias y también la forestación. Se ha constituido como único juez y jurado capaz de decidir que es lo conveniente para el país. En ese contexto considera como una burla la autorización ambiental concedida para una forestación que va a realizar la empresa Stora Enso en el centro del país. Los integrantes de este grupo ven con preocupación que desde que asumió este gobierno no ha tomado nada en cuenta de lo que ellos dicen.
¿Y si resulta que este gobierno no ha tomado en cuenta las mentiras que ellos propagan porque confía en sus técnicos y especialistas? Las personas que de una manera u otra están incidiendo en el desarrollo nacional de la forestación acumulan experiencia y conocimiento de años en investigaciones desarrolladas desde ámbitos universitarios, o en el Instituto de Investigaciones Agrícolas o en el seguimiento y ajustes realizados por los especialistas de la Dirección General Forestal. Si les parece una burla lo hecho por la DINAMA, entonces no me atrevo pensar cómo deben calificar el último decreto que modifica el listado de suelos de prioridad forestal, donde retira algunos de los suelos del litoral oeste e incorpora otros en el este y sur, sumando unas 850.000 hectáreas, además de promover que todo propietario rural plante hasta un 8% de la superficie de su campo con especies de prioridad forestal.
¿Y si resulta que la burla a la inteligencia es justamente lo que ellos sostienen?La respuesta a esta pregunta surge cuando contrastamos la ''verdad absoluta'' que ellos propagan con los datos de la realidad.
Forestación y Agua
Según los datos que presentan quienes se oponen a la forestación, los árboles, y en particular los eucaliptos (nunca mencionan a los pinos), consumen tanta agua que provocan desiertos. Y como el agua se va a acabar de acuerdo a lo que sostienen, otra mentira absurda, resulta que es un cultivo que no cumple con la Constitución.
El eucalipto es un organismo que, como todos, necesita del agua para su subsistencia, igual que todos. Pero el agua que utiliza no la hace desaparecer, simplemente circula y sigue integrada en el ciclo hidrológico. La evapora y vuelva a la superficie de la tierra cuando llueve.
Igualmente el eucalipto es una planta que es eficiente en el uso del agua. Con el término eficiencia se define cuánta agua necesita por unidad de biomasa que produce. Cualquiera sea la metodología de estudio, ya sea por métodos indirectos considerando todos los componentes del ciclo hidrológico en sitios con y sin forestación, o por métodos directos midiendo la cantidad de agua que circula en los troncos de los árboles, la conclusión es la misma: necesita poca agua. Requiere entre 300 y 350 litros de agua para producir 1 kilo de madera. Para obtener 1 kilo de papas se necesitan 2.000 litros y para 1 kilo de granos de girasol la planta utiliza 3.250 litros de agua, sólo por aportar un par de ejemplos.
Cuando denuncian que los pozos se secan por la presencia de eucaliptos en realidad no hay un estudio que respalde esa conclusión. No dicen que en las mismas condiciones de déficit hídrico, para suelos parecidos y profundidades similares, los pozos igualmente se secan sin tener un solo eucalipto cerca.
La Forestación altera la BiodiversidadEsta afirmación es la segunda bandera en importancia de los ambientalistas que se oponen a la forestación. Argumentan que afecta la biodiversidad tanto de la flora como de la fauna nativa. Debo reconocer que es verdad. La forestación afecta la biodiversidad sólo que no lo hace en el sentido que ellos sostienen. Es exactamente al revés: la biodiversidad aumenta.
Si tomamos en cuenta el período 1990-2005 durante el cual se ha dado la expansión sostenida de las áreas forestadas, el monte nativo aumentó 140.000 hectáreas en el país. Lo curioso es que hay años en que el monte nativo incrementó su superficie en un área mayor de la que se plantó.
También es innegable que modificar un ambiente de pradera a un sitio forestado implica un empobrecimiento del sistema en el interior del bosque cultivado cuando este bosque cierra las copas y no permite el crecimiento de sotobosque al interrumpir el pasaje de luz. Sin embargo, hay empresas forestales que han realizado estudios previos para recabar datos de base antes de la forestación y luego han realizado investigaciones durante varios años. El resultado es que hay un significativo enriquecimiento de la biodiversidad de fauna, llegando a encontrar especies consideradas extinguidas, o de raro avistamiento, e incluso nuevos registros de especies para la región del estudio o del país. También registran un incremento en la diversidad de flora en los sitios donde se ha retirado el pastoreo.
Forestación y Suelos
El eucalipto es una planta frugal, requiere una cantidad reducida de nutrientes para su desarrollo en relación con la producción de biomasa y no es para nada cierto que vuelve infértil el suelo y ni siquiera tóxico. Los mismos argumentos empleados para sostener esas acusaciones los podemos aplicar a otros cultivos, incluso a las praderas, y vemos que el potencial efecto del eucalipto es menor. El principal argumento de la acusación es que consume elevadas cantidades de calcio y entonces se producen una serie de consecuencias negativas. Comparemos de nuevo y llevemos al contexto. El eucaliptos grandis consume 1,7 kilos de calcio por tonelada de madera y 3,1 kilos por tonelada de corteza. La soja requiere 3,3 kilos por cada mil kilos de granos, en un ciclo de cultivo que dura pocos meses.
El calcio que está en la leche, el natural, no el que se agrega en las leches industrializadas, proviene del calcio que está en el suelo que es tomado por el pasto y el pasto es comido por la vaca. Y el calcio utilizado en el sistema óseo de los herbívoros también proviene del suelo.
En Argentina se ha cultivado trigo en un campo que había sido destinado a la forestación con pinos y tuvo un buen resultado de cosecha. En el país todavía no se ha dado ninguna experiencia de ese tipo; el desarrollo de la forestación es todavía muy joven.
La Forestación y los Productos del Agro
Lamento informar, en contra de lo que se sostiene o de lo que piensa alguna gente entrevistada durante las manifestaciones, que no está forestada la mitad del país con eucaliptos. Está muy lejos de eso. En 1990 había en el país 45.500 ha forestadas llegando a unas 740.000 ha en la actualidad, incluyendo todas las especies. Esto significa el 4,2% de la superficie total del país. Pero aquí vale una aclaración. Un dato que nadie tiene en cuenta. La superficie forestada bajo proyecto incluye además de la superficie ocupada por los árboles, las áreas destinadas a caminería, cortafuegos y áreas de protección de cuencas. En realidad, lo que efectivamente se cultiva con árboles no es más del 70%. En otras palabras, la superficie forestada real no supera las 520.000 ha, o el 3% del país. Bastante lejos del 50%.
Aquí vale otra aclaración respecto al monte nativo. Cuando hago la precisión de cómo se debe considerar la superficie forestada, no se aplica para el bosque nativo. Lo que creció es exactamente lo que se mide, no es aplicable ningún descuento. Dicho en otras palabras, el incremento de superficie del bosque nativo es igual al 27% de lo efectivamente forestado en el mismo período.
Desde el año 1990 hasta el 2005 el país aumentó su producción de alimentos en 82%, casi el doble que el promedio mundial de 46%, según datos de la FAO. Por citar algunos rubros: el arroz incrementó 148%, girasol 158%, cebada 204%, maíz 88%, trigo 28%, soja 3007%, vacunos en pie 75% y leche 60%.
En realidad no veo cómo ha interferido la forestación con las demás producciones del agro. Es más, se recomienda el silvopastoreo (vaquería pastoril como la ha llamado el Ministro Mujica). Mientras los árboles están creciendo se puede realizar la cría de ganado con un resultado mejor que en praderas abiertas por el efecto galpón que producen los árboles ofreciendo mejores condiciones para los animales. Esto es hacer un negocio en dos pisos en el campo.
Analicemos el mismo caso desde otro ángulo. El aporte de los productos del agro en la exportación tienen como líder la industria cárnica, para el período 2004-2005, con un 23,5% mientras que la forestación participó con 5,3%. Valga una aclaración, la producción de carne se realiza sobre el 70% de la superficie del país mientras que el producto de la forestación se obtuvo con menos del 1%.
En términos de valores absolutos de acuerdo al Censo Agropecuario 2000 la rentabilidad anual de una hectárea dedicada a la forestación es de U$S 272, más de 5 veces superior a la renta de una hectárea dedicada a la producción de carne y lana que es de U$S 56 (para cereales y oleaginosos es de U$S 244 y lechería U$S 170).
Muy relacionada con la producción está la ocupación de mano de obra. Exactamente al revés de lo que manifiestan los ambientalistas, la forestación ocupa bastante más personas por hectárea que la dedicada a la ganadería. La actividad agropecuaria utiliza entre 1,96 y 2,65 personas cada mil hectáreas. La forestación ocupa entre 2 a 9 puestos permanentes para la misma superficie sin tomar en cuenta trabajos zafrales, ni empleados un viveros ni subcontratistas. Si se toma en cuenta todas las actividades involucradas los puestos de trabajo son de 7 a 11 por cada mil hectáreas. Pero además los datos censales y datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social demuestran que localmente se está revirtiendo la migración rural tornándola positiva y revirtiendo la despoblación del campo.
Algunas Consideraciones Finales
Debemos tener en cuenta que la madera tiene un uso masivo y generalizado pero a la vez surge de un recurso renovable. Hay aproximadamente 10.000 productos derivados de la madera cuyos potenciales sustitutos consumen entre 9 y 30 veces más energía, contaminantes y no reemplazables. La madera es el commodity de mayor volumen de comercialización y lo seguirá siendo. La mitad de ese volumen se usa como combustible renovable. Tomando en cuenta un incremento anual mínimo sostenido de 1,5% de la demanda en el mundo, se prevé para el año 2040 un volumen de 3 billones de metros cúbicos/año de madera de uso industrial. Esta oferta puede ser atendida sostenidamente con 148.000 millones de ha forestadas con especies de alto crecimiento. Esta superficie representa sólo el 5% de la superficie de los bosques del mundo.
En Uruguay se llevó adelante un plan que se está ejecutando, y se proyecta promisoriamente en el futuro, que le permite integrarse inteligente y satisfactoriamente en la producción de madera y comercialización de madera a partir de bosques cultivados.
Está lejos de mi intención plantear una defensa acérrima y caprichosa de la actividad forestal en el país. Mi objetivo es presentar la situación y la evolución de esta actividad desde diferentes ángulos y en un contexto adecuado, basándome en estudios y datos aportados. En realidad estoy en contra de forestar indiscriminadamente pero es claro y evidente que en el país se ha forestado aplicando criterios de regulación y control adecuados.
Pero todo indica que, cualquiera sea el abordaje del tema que se trate, la forestación resulta en un efecto positivo. Respecto a las consecuencias en la biodiversidad poco más queda para agregar más allá de los resultados presentados por los estudios realizados, donde se están recuperando aún especies consideradas extinguidas en el país. Desde el punto de vista productivo es una actividad que suma desarrollo, generación de divisas y fuentes de trabajo sin que exista un desplazamiento significativo y trascendente de otras actividades vinculadas al recurso suelo. Debemos tener en cuenta que cuanta mayor diversificación exista en la actividad económica de un país, resulta globalmente menos sensible a la oscilación de efectos económicos externos. Respecto a los efectos en el agua y el suelo considero que, como mínimo, los argumentos que se manejan oponiéndose a la forestación son francamente exagerados.
Cuando observo esta actividad desde el punto histórico llego a la conclusión que estoy frente a uno de los planes de largo plazo que se presenta como plenamente exitoso tanto en la situación actual como en la perspectiva futura.
Creo también que esto debemos tomarlo como un ejemplo a seguir, acostumbrarnos por un lado a pensar en término de décadas y proyectar en función de esa escala temporal y por otro actuar de acuerdo a las normas más estrictas y modernas, incorporando en todas las etapas productivas, cualquiera sea la actividad, planes de gestión ambiental adecuados.
Sin ninguna duda el gobierno cuenta con especialistas en las áreas correspondientes para proyectar el país al futuro. Sin ninguna duda el gobierno en este tema actúa con inteligencia y visión descentralizadora. Sin duda alguna el desarrollo de la forestación y la cadena de producción de la madera con valor agregado será uno de los motores del desarrollo social y económico.
(*) Analista ambiental de proyectos industriales y de infraestructura. Uruguay.
Artigo gentilmente enviado ao blog pelo autor.
Por Lic. Luis Anastasía (*)
Si analizamos los movimientos ecologistas o ambientalistas vemos que son diversos en sus concepciones y objetivos. Por un lado están aquellos que, partiendo desde una consideración antropocéntrica, toman como una responsabilidad cuidar el ambiente para las generaciones futuras. No hay ninguna duda que todos nosotros, como individuos responsables, debemos hacer de esta posición una forma de vida y actuar en consecuencia.
Por otro lado, en el extremo opuesto, el ecologismo más duro rechaza el antropocentrismo y ve a la humanidad como una verdadera peste para la naturaleza. Basados en una visión malthusiana del mundo, anuncian continuas catástrofes ambientales asociadas indefectiblemente al desarrollo e identifican como culpables a los sistemas económicos y políticos que lo permiten.
Ambas posiciones tienen en común establecer una relación emocional con el ambiente, pero mientras la primera es moderada en sus acciones o en su mayoría es pasiva y receptora, la posición más radical y actora apela a difundir información falsa, tergirversada o sacada de contexto para justificar el conflicto que es necesario para sostener su propia existencia. Así apela directamente a la incertidumbre y al miedo que siembran describiendo un presente negro y un futuro espantoso. Pero como la realidad, esa terca realidad, no se ajusta a lo que describen recurren entonces a descalificar todo lo que pueda provenir de las empresas. De esa manera bloquean anticipadamente la difusión de información y datos que puedan ser inconvenientes para sus intereses. Siempre prevalece en la prensa sus ''denuncias y luchas'' por la calidad ambiental, pero cuando se demuestra que mienten ya pierde interés para su difusión.
Y como ahora parece que ni siquiera esa estrategia es suficiente ahora se han dedicado sistemáticamente, desde la escalada del conflicto por la instalación de las celulosas, a descalificar sin ningún escrúpulo al sistema legal de protección del ambiente que se aplica en el país y a la capacidad técnica de los especialistas privados y estatales que son los responsables, en definitiva, que Uruguay tenga una posición tan alta en el panorama mundial en cuanto al cuidado ambiental.
De forma reiterada y en absoluto justificada sostienen que la DINAMA no tiene técnicos y no da garantías. Insisten en que las industrias contaminan de una forma irremediable, que provocan cáncer, enfermedades crónicas, malformaciones, lluvia ácida, aún cuando las industrias se ajusten a las más estrictas normativas de control ambiental. Recurren a esas consecuencias para llegar de una forma más fácil al impacto emocional. No lo prueban, simplemente lo dicen y lo sostienen en una muy eficiente campaña porque logran perfectamente su objetivo: transforman una mentira en un mito y luego deviene verdad absoluta.
Por supuesto que la actividad forestal que se está desarrollando desde hace lustros en el país no se iba a librar de la lucha opositora de los ambientalistas. Esta actividad permite el desarrollo y por lo tanto es opuesto a los intereses de estos grupos. Lo asocian con todo lo que ellos combaten y lo definen ridículamente como el cultivo neoliberal o árbol fascista.
Pero como no pueden decir que el eucalipto provoca cáncer, enfermedades o toda la reiterada y monótona batería de argumentos, entonces lo asocian a otro aspecto de especial sensibilidad como el agua, necesaria para toda forma de vida, acusando a la forestación de provocar desiertos.
El grupo Guayubira se ha erigido como el movimiento emblemático en la lucha contra las industrias y también la forestación. Se ha constituido como único juez y jurado capaz de decidir que es lo conveniente para el país. En ese contexto considera como una burla la autorización ambiental concedida para una forestación que va a realizar la empresa Stora Enso en el centro del país. Los integrantes de este grupo ven con preocupación que desde que asumió este gobierno no ha tomado nada en cuenta de lo que ellos dicen.
¿Y si resulta que este gobierno no ha tomado en cuenta las mentiras que ellos propagan porque confía en sus técnicos y especialistas? Las personas que de una manera u otra están incidiendo en el desarrollo nacional de la forestación acumulan experiencia y conocimiento de años en investigaciones desarrolladas desde ámbitos universitarios, o en el Instituto de Investigaciones Agrícolas o en el seguimiento y ajustes realizados por los especialistas de la Dirección General Forestal. Si les parece una burla lo hecho por la DINAMA, entonces no me atrevo pensar cómo deben calificar el último decreto que modifica el listado de suelos de prioridad forestal, donde retira algunos de los suelos del litoral oeste e incorpora otros en el este y sur, sumando unas 850.000 hectáreas, además de promover que todo propietario rural plante hasta un 8% de la superficie de su campo con especies de prioridad forestal.
¿Y si resulta que la burla a la inteligencia es justamente lo que ellos sostienen?La respuesta a esta pregunta surge cuando contrastamos la ''verdad absoluta'' que ellos propagan con los datos de la realidad.
Forestación y Agua
Según los datos que presentan quienes se oponen a la forestación, los árboles, y en particular los eucaliptos (nunca mencionan a los pinos), consumen tanta agua que provocan desiertos. Y como el agua se va a acabar de acuerdo a lo que sostienen, otra mentira absurda, resulta que es un cultivo que no cumple con la Constitución.
El eucalipto es un organismo que, como todos, necesita del agua para su subsistencia, igual que todos. Pero el agua que utiliza no la hace desaparecer, simplemente circula y sigue integrada en el ciclo hidrológico. La evapora y vuelva a la superficie de la tierra cuando llueve.
Igualmente el eucalipto es una planta que es eficiente en el uso del agua. Con el término eficiencia se define cuánta agua necesita por unidad de biomasa que produce. Cualquiera sea la metodología de estudio, ya sea por métodos indirectos considerando todos los componentes del ciclo hidrológico en sitios con y sin forestación, o por métodos directos midiendo la cantidad de agua que circula en los troncos de los árboles, la conclusión es la misma: necesita poca agua. Requiere entre 300 y 350 litros de agua para producir 1 kilo de madera. Para obtener 1 kilo de papas se necesitan 2.000 litros y para 1 kilo de granos de girasol la planta utiliza 3.250 litros de agua, sólo por aportar un par de ejemplos.
Cuando denuncian que los pozos se secan por la presencia de eucaliptos en realidad no hay un estudio que respalde esa conclusión. No dicen que en las mismas condiciones de déficit hídrico, para suelos parecidos y profundidades similares, los pozos igualmente se secan sin tener un solo eucalipto cerca.
La Forestación altera la BiodiversidadEsta afirmación es la segunda bandera en importancia de los ambientalistas que se oponen a la forestación. Argumentan que afecta la biodiversidad tanto de la flora como de la fauna nativa. Debo reconocer que es verdad. La forestación afecta la biodiversidad sólo que no lo hace en el sentido que ellos sostienen. Es exactamente al revés: la biodiversidad aumenta.
Si tomamos en cuenta el período 1990-2005 durante el cual se ha dado la expansión sostenida de las áreas forestadas, el monte nativo aumentó 140.000 hectáreas en el país. Lo curioso es que hay años en que el monte nativo incrementó su superficie en un área mayor de la que se plantó.
También es innegable que modificar un ambiente de pradera a un sitio forestado implica un empobrecimiento del sistema en el interior del bosque cultivado cuando este bosque cierra las copas y no permite el crecimiento de sotobosque al interrumpir el pasaje de luz. Sin embargo, hay empresas forestales que han realizado estudios previos para recabar datos de base antes de la forestación y luego han realizado investigaciones durante varios años. El resultado es que hay un significativo enriquecimiento de la biodiversidad de fauna, llegando a encontrar especies consideradas extinguidas, o de raro avistamiento, e incluso nuevos registros de especies para la región del estudio o del país. También registran un incremento en la diversidad de flora en los sitios donde se ha retirado el pastoreo.
Forestación y Suelos
El eucalipto es una planta frugal, requiere una cantidad reducida de nutrientes para su desarrollo en relación con la producción de biomasa y no es para nada cierto que vuelve infértil el suelo y ni siquiera tóxico. Los mismos argumentos empleados para sostener esas acusaciones los podemos aplicar a otros cultivos, incluso a las praderas, y vemos que el potencial efecto del eucalipto es menor. El principal argumento de la acusación es que consume elevadas cantidades de calcio y entonces se producen una serie de consecuencias negativas. Comparemos de nuevo y llevemos al contexto. El eucaliptos grandis consume 1,7 kilos de calcio por tonelada de madera y 3,1 kilos por tonelada de corteza. La soja requiere 3,3 kilos por cada mil kilos de granos, en un ciclo de cultivo que dura pocos meses.
El calcio que está en la leche, el natural, no el que se agrega en las leches industrializadas, proviene del calcio que está en el suelo que es tomado por el pasto y el pasto es comido por la vaca. Y el calcio utilizado en el sistema óseo de los herbívoros también proviene del suelo.
En Argentina se ha cultivado trigo en un campo que había sido destinado a la forestación con pinos y tuvo un buen resultado de cosecha. En el país todavía no se ha dado ninguna experiencia de ese tipo; el desarrollo de la forestación es todavía muy joven.
La Forestación y los Productos del Agro
Lamento informar, en contra de lo que se sostiene o de lo que piensa alguna gente entrevistada durante las manifestaciones, que no está forestada la mitad del país con eucaliptos. Está muy lejos de eso. En 1990 había en el país 45.500 ha forestadas llegando a unas 740.000 ha en la actualidad, incluyendo todas las especies. Esto significa el 4,2% de la superficie total del país. Pero aquí vale una aclaración. Un dato que nadie tiene en cuenta. La superficie forestada bajo proyecto incluye además de la superficie ocupada por los árboles, las áreas destinadas a caminería, cortafuegos y áreas de protección de cuencas. En realidad, lo que efectivamente se cultiva con árboles no es más del 70%. En otras palabras, la superficie forestada real no supera las 520.000 ha, o el 3% del país. Bastante lejos del 50%.
Aquí vale otra aclaración respecto al monte nativo. Cuando hago la precisión de cómo se debe considerar la superficie forestada, no se aplica para el bosque nativo. Lo que creció es exactamente lo que se mide, no es aplicable ningún descuento. Dicho en otras palabras, el incremento de superficie del bosque nativo es igual al 27% de lo efectivamente forestado en el mismo período.
Desde el año 1990 hasta el 2005 el país aumentó su producción de alimentos en 82%, casi el doble que el promedio mundial de 46%, según datos de la FAO. Por citar algunos rubros: el arroz incrementó 148%, girasol 158%, cebada 204%, maíz 88%, trigo 28%, soja 3007%, vacunos en pie 75% y leche 60%.
En realidad no veo cómo ha interferido la forestación con las demás producciones del agro. Es más, se recomienda el silvopastoreo (vaquería pastoril como la ha llamado el Ministro Mujica). Mientras los árboles están creciendo se puede realizar la cría de ganado con un resultado mejor que en praderas abiertas por el efecto galpón que producen los árboles ofreciendo mejores condiciones para los animales. Esto es hacer un negocio en dos pisos en el campo.
Analicemos el mismo caso desde otro ángulo. El aporte de los productos del agro en la exportación tienen como líder la industria cárnica, para el período 2004-2005, con un 23,5% mientras que la forestación participó con 5,3%. Valga una aclaración, la producción de carne se realiza sobre el 70% de la superficie del país mientras que el producto de la forestación se obtuvo con menos del 1%.
En términos de valores absolutos de acuerdo al Censo Agropecuario 2000 la rentabilidad anual de una hectárea dedicada a la forestación es de U$S 272, más de 5 veces superior a la renta de una hectárea dedicada a la producción de carne y lana que es de U$S 56 (para cereales y oleaginosos es de U$S 244 y lechería U$S 170).
Muy relacionada con la producción está la ocupación de mano de obra. Exactamente al revés de lo que manifiestan los ambientalistas, la forestación ocupa bastante más personas por hectárea que la dedicada a la ganadería. La actividad agropecuaria utiliza entre 1,96 y 2,65 personas cada mil hectáreas. La forestación ocupa entre 2 a 9 puestos permanentes para la misma superficie sin tomar en cuenta trabajos zafrales, ni empleados un viveros ni subcontratistas. Si se toma en cuenta todas las actividades involucradas los puestos de trabajo son de 7 a 11 por cada mil hectáreas. Pero además los datos censales y datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social demuestran que localmente se está revirtiendo la migración rural tornándola positiva y revirtiendo la despoblación del campo.
Algunas Consideraciones Finales
Debemos tener en cuenta que la madera tiene un uso masivo y generalizado pero a la vez surge de un recurso renovable. Hay aproximadamente 10.000 productos derivados de la madera cuyos potenciales sustitutos consumen entre 9 y 30 veces más energía, contaminantes y no reemplazables. La madera es el commodity de mayor volumen de comercialización y lo seguirá siendo. La mitad de ese volumen se usa como combustible renovable. Tomando en cuenta un incremento anual mínimo sostenido de 1,5% de la demanda en el mundo, se prevé para el año 2040 un volumen de 3 billones de metros cúbicos/año de madera de uso industrial. Esta oferta puede ser atendida sostenidamente con 148.000 millones de ha forestadas con especies de alto crecimiento. Esta superficie representa sólo el 5% de la superficie de los bosques del mundo.
En Uruguay se llevó adelante un plan que se está ejecutando, y se proyecta promisoriamente en el futuro, que le permite integrarse inteligente y satisfactoriamente en la producción de madera y comercialización de madera a partir de bosques cultivados.
Está lejos de mi intención plantear una defensa acérrima y caprichosa de la actividad forestal en el país. Mi objetivo es presentar la situación y la evolución de esta actividad desde diferentes ángulos y en un contexto adecuado, basándome en estudios y datos aportados. En realidad estoy en contra de forestar indiscriminadamente pero es claro y evidente que en el país se ha forestado aplicando criterios de regulación y control adecuados.
Pero todo indica que, cualquiera sea el abordaje del tema que se trate, la forestación resulta en un efecto positivo. Respecto a las consecuencias en la biodiversidad poco más queda para agregar más allá de los resultados presentados por los estudios realizados, donde se están recuperando aún especies consideradas extinguidas en el país. Desde el punto de vista productivo es una actividad que suma desarrollo, generación de divisas y fuentes de trabajo sin que exista un desplazamiento significativo y trascendente de otras actividades vinculadas al recurso suelo. Debemos tener en cuenta que cuanta mayor diversificación exista en la actividad económica de un país, resulta globalmente menos sensible a la oscilación de efectos económicos externos. Respecto a los efectos en el agua y el suelo considero que, como mínimo, los argumentos que se manejan oponiéndose a la forestación son francamente exagerados.
Cuando observo esta actividad desde el punto histórico llego a la conclusión que estoy frente a uno de los planes de largo plazo que se presenta como plenamente exitoso tanto en la situación actual como en la perspectiva futura.
Creo también que esto debemos tomarlo como un ejemplo a seguir, acostumbrarnos por un lado a pensar en término de décadas y proyectar en función de esa escala temporal y por otro actuar de acuerdo a las normas más estrictas y modernas, incorporando en todas las etapas productivas, cualquiera sea la actividad, planes de gestión ambiental adecuados.
Sin ninguna duda el gobierno cuenta con especialistas en las áreas correspondientes para proyectar el país al futuro. Sin ninguna duda el gobierno en este tema actúa con inteligencia y visión descentralizadora. Sin duda alguna el desarrollo de la forestación y la cadena de producción de la madera con valor agregado será uno de los motores del desarrollo social y económico.
(*) Analista ambiental de proyectos industriales y de infraestructura. Uruguay.
Artigo gentilmente enviado ao blog pelo autor.
23.10.06
A idiotia latino-americana

Acredita que somos pobres porque eles são ricos e vice-versa, que a história é uma bem-sucedida conspiração dos maus contra os bons, onde aqueles sempre ganham e nós sempre perdemos (em todos os casos, está entre as pobres vítimas e os bons perdedores), não se constrange em navegar no espaço cibernético, sentir-se on line e (sem perceber a contradição) abominar o consumismo. Quando fala de cultura, ergue a seguinte bandeira: “O que sei, aprendi na vida, não em livros; por isso, minha cultura não é livresca, mas vital.” É o idiota latino-americano.
Eis a descrição do idiota na apresentação, redigida pelo escritor peruano Mário Vargas Llosa, à obra Manual do perfeito idiota latino-americano, de Plínio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner e Álvaro Vargas Llosa. Intencionalmente polêmico, o livro traça, com humor ferino, o perfil do sujeito que freqüentou universidade e, depois, passou a militar nos sindicatos, nos partidos, nas ongs e outras associações que se dizem sociais. De quebra, destrói impiedosamente a galeria de mitos revolucionários e heróis populistas que infestaram a região.
A idiotia latino-americana, diz ainda o apresentador, é deliberada e de livre-escolha: “é adotada conscientemente por preguiça intelectual, apatia ética e oportunismo civil. É ideológica e política, mas acima de tudo frívola, pois revela uma abdicação da faculdade de pensar por conta própria, de cotejar as palavras com os fatos que pretendem descrever, de questionar a retórica que faz as vezes de pensamento.” Não parece uma descrição fiel da intelectualidade brasileira que se diz “esquerdista”?
O idiota latino tem sempre uma biblioteca política. Afinal, é bom leitor, ainda que só leia livros ruins. “Não lê da esquerda para a direita” – escarnecem os autores -, “como os ocidentais, nem da direita para esquerda, como os orientais. Dá um jeito para ler da esquerda para a esquerda. Pratica a endogamia e o incesto ideológico.”
Mas o que lê o nosso idiota? O livro cita algumas obras, considerando uma delas a bíblia da idiotia: As veias abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que tem devastado cabeças desde os anos 70. Ainda é levado a sério por muita gente e recomendado a alunos por professores idiotas. As outras obras são: A História me absolverá, de Fidel Castro; Os condenados da Terra, de Frantz Fanon; A guerra de guerrilhas, de Ernesto (Che) Guevara; o onipresente Os conceitos elementares do materialismo histórico, de Marta Harnecker; O homem unidimensional, de Herbert Marcuse (um ataque à “civilização industrial”); Para ler o Pato Donald, de Ariel Dorfman e Armand Mattelart (obrigatório nas escolinhas de comunicação nos anos 70); e Para uma teologia da libertação, de Gustavo Gutiérrez.
Dois brasileiros contribuem para a formação do idiota latino-americano: Fernando Henrique Cardoso que, com Enzo Faletto, escreveu Dependência e desenvolvimento na América Latina (que dividiu o mundo entre “centro” e “periferia”), e Frei Betto, apóstolo da teologia da libertação no Brasil e “conselheiro espiritual” do presidente Lula. FHC, como se sabe, tomou o rumo da civilização; já o frei continua escrevendo bobagens nos jornais (exemplos: "Cuba é o único país onde a palavra dignidade tem sentido"; "Em nossos países se nasce para morrer. Em Cuba, não!").
Manual do perfeito idiota latino-americano foi lançado em 1996 e traduzido pela Bertrand Brasil, do Rio de Janeiro (está na 5a. edição, de 2005). Vale a pena a ler. Quem já foi idiota em outros tempos – como este escrevinhador – dará boas gargalhadas lembrando da juventude; outros, percebendo-se ainda na idiotia, poderão pelo menos começar a criticar-se a si próprios. Mas, não nos enganemos, há os irredutíveis, aqueles que jamais abandonarão a condição (veja aqui, por exemplo).
17.8.06
Ética e relativismo cultural
Harry Gensler
John Carroll University, Cleveland, USA
Relativismo Cultural (RC): "Bem" significa "socialmente aprovado." Escolhe os teus princípios morais segundo aquilo que a tua sociedade aprova.
O relativismo cultural (RC) defende que o bem e o mal são relativos a cada cultura. O "bem" coincide com o que é "socialmente aprovado" numa dada cultura. Os princípios morais descrevem convenções sociais e devem ser baseados nas normas da nossa sociedade.
Começaremos por ouvir uma figura ficcional, a que chamarei Ana Relativista, e que nos explicará a sua crença no relativismo cultural. Ao ler o que se segue, ou explicações semelhantes, proponho-lhe que reflicta até que ponto esta é uma perspectiva plausível e se se harmoniza com o seu ponto de vista. Depois de ouvirmos o que Ana tem para dizer, consideraremos várias objecções ao RC.
1. Ana Relativista
O meu nome é Ana Relativista. Aderi ao relativismo cultural ao compreender a profunda base cultural que suporta a moralidade.
Fui educada para acreditar que a moral se refere a factos objectivos. Tal como a neve é branca, também o infanticídio é um mal. Mas as atitudes variam em função do espaço e do tempo. As normas que aprendi são as normas da minha própria sociedade; outras sociedades possuem diferentes normas. A moral é uma construção social. Tal como as sociedades criam diversos estilos culinários e de vestuário, também criam códigos morais distintos. Aprendi-o ao estudar antropologia e vivi-o no México quando estive lá a estudar.
Considere a minha crença de que o infanticídio é um mal. Ensinaram-me isto como se se tratasse de um padrão objectivo. Mas não é; é apenas aquilo que defende a sociedade a que pertenço. Quando afirmo "O infanticídio é um mal" quero dizer que a minha sociedade desaprova essa prática e nada mais. Para os antigos romanos, por exemplo, o infanticídio era um bem. Não tem sentido perguntar qual das perspectivas é "correcta". Cada um dos pontos de vista é relativo à sua cultura, e o nosso é relativo à nossa. Não existem verdades objectivas acerca do bem ou do mal. Quando dizemos o contrário, limitamo-nos a impor a nossas atitudes culturalmente adquiridas como se se tratassem de "verdades objectivas".
"Mal" é um termo relativo. Deixem-me explicar o que isto significa. Quero dizer que nada está absolutamente "à esquerda", mas apenas "à esquerda deste ou daquele" objecto. Do mesmo modo, nada é um mal em absoluto, mas apenas um mal nesta ou naquela sociedade particular. O infanticídio pode ser um mal numa sociedade e um bem noutra.
Podemos expressar esta perspectiva claramente através de uma definição: "X é um bem" significa "a maioria (na sociedade em questão) aprova X". Outros conceitos morais como "mal" ou "correcto", podem ser definidos da mesma forma. Note-se ainda a referência a uma sociedade específica. A menos que o contrário seja especificado, a sociedade em questão é aquela a que pertence a pessoa que formula o juízo. Quando afirmo "Hitler agiu erradamente" quero de facto dizer "de acordo com os padrões da minha sociedade".
O mito da objectividade afirma que as coisas podem ser um bem ou um mal de uma forma absoluta — e não relativamente a esta ou àquela cultura. Mas como poderemos saber o que é o bem ou o mal em termos absolutos? Como poderíamos argumentar a favor desta ideia sem pressupor os padrões da nossa própria sociedade? As pessoas que falam do bem e do mal de forma absoluta limitam-se a absolutizar as normas que vigoram na sua própria sociedade. Consideram as normas que lhes foram ensinadas como factos objectivos. Essas pessoas necessitam de estudar antropologia, ou viver algum tempo numa cultura diferente.
Quando adoptei o relativismo cultural tornei-me mais receptiva a aceitar outras culturas. Como muitos outros estudantes, eu partilhava a típica atitude "nós estamos certos e eles errados". Lutei arduamente contra isto. Apercebi-me de que o outro lado não está "errado" mas que é apenas "diferente". Temos, por isso, que considerar os outros a partir do seu próprio ponto de vista; ao criticá-los, limitamo-nos a impor-lhes padrões que a nossa própria sociedade construiu. Nós, os relativistas culturais, somos mais tolerantes.
Através do relativismo cultural tornei-me também mais receptiva às normas da minha própria sociedade. O RC dá-nos uma base para uma moral comum no interior da cada cultura — uma base democrática que abrange as ideias de todos e assegura que as normas tenham um amplo suporte. Assim, posso sentir-me solidária com pessoas que partilham comigo uma mesma comunidade, ainda que outros grupos possuam diferentes valores.
2. Objecções ao RC
Ana deu-nos uma formulação clara de um ponto de vista acerca da moral que muitas pessoas consideram atractiva. Reflectiu bastante acerca da moral e isto permite-nos aprender com ela. Contudo, estou convencido de que a sua perspectiva básica neste domínio está errada. Suponho que Ana acabará por concordar à medida que as suas ideias ficarem mais claras.
Deixem-me indicar o principal problema. RC força-nos a conformar-nos com as normas sociais — ou contradizemo-nos. Se "bem" e "socialmente aprovado" significam a mesma coisa, seja o que for ao qual o primeiro termo se aplique também o segundo lhe é aplicável.
Assim, o seguinte raciocínio seria válido:
Isto e aquilo são socialmente aprovados. Logo, isto e aquilo são bens.
Se o relativismo cultural fosse verdadeiro, não poderíamos consistentemente discordar dos valores da nossa sociedade. Mas este resultado é absurdo. Claro que é possível consistentemente discordar dos valores da nossa sociedade. Podemos afirmar consistentemente que algo é socialmente aprovado e negar que seja um "bem". Isto não é possível se o RC for verdadeiro.
Ana poderia aceitar esta consequência implausível e dizer que é contraditório discordar moralmente da maioria. Mas esta seria uma consequência especialmente difícil de ser aceite. Ana teria de aceitar que os defensores dos direitos civis estariam a contradizer-se ao discordarem da perspectiva aceite pelos segregacionistas. E teria de aceitar a perspectiva da maioria em todas as questões morais — mesmo que perceba que a maioria é ignorante.
Suponha que Ana tinha aprendido que a maioria das pessoas da sua cultura aprovam a intolerância e também a ideia de ridicularizar pessoas de outras culturas. Teria ainda assim de concluir que a intolerância é um bem (apesar de esta atitude contrariar as suas próprias intuições).
A intolerância é socialmente aprovada. Logo, a intolerância é um bem.
Ana teria que aceitar a conclusão (aceitar que a intolerância é boa) ou rejeitar o relativismo cultural. Se quiser ser consistente é necessário modificar pelo menos uma destas perspectivas.
Eis uma dificuldade ainda mais grave. Imaginemos que Ana encontrava alguém chamada Rita Rebelde, oriunda de um país Nazi. Na terra natal de Rita, os judeus e os críticos do governo são colocados em campos de concentração. Sucede que a maioria das pessoas, mal informadas sobre o que se passa, aprovam esta política. Rita é uma dissidente. Defende que esta política, apesar do apoio da maioria das pessoas, está errada. Se Ana quisesse aplicar o RC a esta situação particular teria que dizer a Rita algo do género:
Rita, a palavra "bem" refere-se ao que é aprovado pela tua cultura. Como essa cultura aprova o racismo e a opressão, deves aceitar esta atitude como um bem. Não podes pensar diferentemente. A perspectiva minoritária está sempre errada — o "bem" é, por definição, aquilo que socialmente é aprovado.
A perspectiva do RC é intolerante para com as minorias (que automaticamente estão erradas) e forçaria Rita a aceitar o racismo e a opressão como sendo bons. Isto decorre da definição de "bem" como algo "socialmente aprovado". Ao compreendê-lo, talvez abandone o RC.
O racismo é um bom teste para a ética. Uma perspectiva ética satisfatória deve fornecer-nos os meios para combater actos racistas. O RC falha neste aspecto, dado estar comprometido com a tese segundo a qual as acções racialmente motivadas são boas numa dada sociedade se essa sociedade as aprova. Se Rita seguisse o RC, teria que concordar com a atitude racista da maioria, ainda que as pessoas estivessem mal informadas ou fossem ignorantes. O relativismo cultural parece bastante insatisfatório neste ponto.
A educação moral é também um bom teste ético. Se aceitassemos o RC, como educaríamos os nossos filhos em questões de ordem moral? Ensinar-lhes-íamos que pensassem e agissem de acordo com as normas da sua sociedade, qualquer que esta fosse. Estaríamos a ensiná-los a serem conformistas. Ensinar-lhes-íamos, por exemplo, que os seguintes raciocínios são correctos:
"A minha sociedade aprova A; logo, A é bom."
"O meu grupo aprova que nos embebedemos às sextas-feiras à noite e conduzamos no regresso a casa; logo, esta é uma boa atitude."
"A minha sociedade é Nazi e aprova o racismo; logo, o racismo é um bem."
Aceitar o RC priva-nos de exercer qualquer sentido crítico acerca das normas da nossa sociedade. Estas normas não podem estar erradas — ainda que resultem da estupidez e da ignorância.
Do mesmo modo, as normas de outras sociedades (mesmo as da terra natal de Rita) não podem estar erradas ou serem criticadas. O RC contraria o espírito crítico que é próprio da filosofia.
3. Diversidade moral
O relativismo cultural considera o mundo como algo que está dividido de uma forma nítida em sociedades distintas. Em cada uma delas não existe desacordo em questões morais ou apenas em pequena escala, dado que a perspectiva maioritária determina o que é considerado um bem ou um mal nessa sociedade. Mas o mundo não é assim. Pelo contrário, o mundo é uma mistura confusa de sociedades e grupos sobrepostos; e os indivíduos não seguem necessariamente o ponto de vista da maioria.
O relativismo cultural ignora o problema dos subgrupos. Todos nós fazemos parte de grupos sobrepostos. Cada um de nós, por exemplo, faz parte de uma nação, de um estado, de uma cidade, de um bairro. Além disso, cada um de nós pertence a várias comunidades, profissionais, religiosas, grupos de amigos, etc. É frequente estes grupos terem valores que estão em conflito. De acordo com o RC, quando afirmo "O racismo é um mal" pretendo dizer "A minha sociedade desaprova o racismo". Mas a que sociedade nos referimos? Talvez a maioria das pessoas que pertencem à minha comunidade religiosa e ao meu país desaprove o racismo, enquanto a maioria dos que fazem parte do meu grupo profissional e familiar o aprovem. O relativismo cultural poderia dar-nos meios para nos conduzirmos correctamente no plano moral apenas se cada um de nós pertencesse a uma única sociedade. Mas o mundo é bastante mais complicado do que este quadro sugere. Até certo ponto, todos nós somos indivíduos multi-culturalizados.
O RC não tenta estabelecer normas comuns entre sociedades. À medida que a tecnologia invade o planeta, as disputas morais entre diferentes sociedades têm tendência para se tornarem mais importantes. O país A aprova a existência de direitos iguais para as mulheres (ou outras raças e religiões), mas o país B desaprova-o. Que deve fazer uma companhia multinacional que opera nos dois países? Ou as sociedades A e B têm conflitos de valores que conduzem à guerra. Dado que o relativismo cultural pouco nos ajuda acerca destes problemas, oferece-nos uma base muito pobre para responder às exigências da vida no século XXI.
Como responder à diversidade cultural entre sociedades? Ana rejeita a atitude dogmática do género "Nós estamos certos e eles errados". Percebe a necessidade de compreender as sociedades e culturas diferentes da sua própria a partir do ponto de vista dessas culturas e sociedades. Estas são ideias positivas. Mas, em seguida, afirma também que nenhum dos lados pode estar errado. Isto limita a nossa capacidade para aprender. Se a nossa cultura não pode estar errada, não pode aprender com os seus próprios erros. Compreender as normas de outras culturas não permitirá ajudar-nos a corrigir os erros das nossas próprias sociedades.
Aqueles que acreditam em valores objectivos vêem estes assuntos de um modo diferente. Poderiam defender algo como isto:
Existem verdades para descobrir no domínio moral, mas nenhuma cultura possui o monopólio destas verdades. As diferentes culturas necessitam de aprender umas com as outras. Para que tomemos consciência dos erros e dos nossos valores, é necessário conhecer como procedem as outras culturas, e de que forma reagem ao que nós fazemos. Aprender com diferentes culturas pode ajudar-nos a corrigir os nossos valores e a aproximar-nos da verdade acerca do modo como devemos viver.
4. Valores objectivos
É necessário falar um pouco mais acerca da objectividade dos valores. Este é um tópico bastante vasto e importante.
A perspectiva objectivista (também designada realismo moral) defende que certas coisas são objectivamente um bem ou objectivamente um mal, independentemente do que possamos sentir ou pensar. Martin Luther King, por exemplo, defendia que o racismo está objectivamente errado. Que o racismo esteja errado era para ele um facto. Qualquer pessoa e cultura que aprovasse o racismo estariam erradas. Ao dizer isto, King não estava a absolutizar as normas da nossa sociedade; discordava, pelo contrário, das normas amplamente aceites. Fazia apelo a uma verdade mais elevada acerca do bem e do mal, uma verdade que não estava dependente do modo de pensar ou sentir das pessoas neste ou naquele momento. Fazia apelo a valores objectivos.
Ana rejeita a crença em valores objectivos e chama-lhe "o mito da objectividade". Nesta perspectiva, as coisas são um bem ou um mal apenas relativamente a esta ou àquela cultura. Não são objectivamente boas ou más, como King pensava. Mas serão os valores objectivos realmente um "mito"? Para responder a isto convém examinar o raciocínio de Ana.
Ana tinha três argumentos contra a objectividade dos valores. Não existem verdades morais objectivas porque:
-A moral é um produto da cultura;
-As sociedades discordam amplamente acerca da moralidade;
-Não existe uma maneira clara de resolver diferenças morais.
De facto, qualquer destes argumentos cede com facilidade se o examinarmos cuidadosamente.
1) "Dado que a moral é um produto da cultura, não podem existir verdades morais objectivas". O problema deste raciocínio é que um produto da cultura pode expressar uma verdade objectiva. Qualquer livro é um produto cultural; no entanto, muitos livros exprimem verdades objectivas. Da mesma forma, um código moral pode ser um produto cultural e expressar verdades objectivas acerca da maneira como as pessoas devem viver.
2) "Visto as diferentes culturas discordarem amplamente sobre a moral, não podem existir verdades morais objectivas." O simples facto de existir desacordo não mostra, no entanto, que não existe verdade neste domínio e que nenhum dos lados está certo ou errado. O extenso desacordo entre diferentes culturas acerca de antropologia, religião, e até em física, não impede a existência de verdades objectivas nestes domínios. Logo, o desacordo em questões morais não mostra que não exista verdade nestes assuntos.
Podemos igualmente questionar-nos se as diferentes culturas divergem assim tão profundamente sobre a moral. Na maior parte das culturas existem normas muito semelhantes quanto a matar, roubar e mentir. E muitas das diferenças podem ser explicadas em resultado da aplicação dos mesmos valores básicos a diferentes situações. A Regra de Ouro "Trata os outros como queres ser tratado" é quase universalmente aceite em todo o mundo. E as diferentes culturas que constituem as Nações Unidas concordaram em larga medida a respeito dos direitos humanos mais elementares.
3) "Como não existe uma maneira clara de resolver diferenças morais, não é possível que existam verdades morais objectivas." Mas podem existir maneiras claras de resolver pelo menos um grande número de diferenças morais. Precisamos de uma forma de raciocinar em ética que faça apelo às pessoas inteligentes e com suficiente abertura de espírito de todas as culturas — isto faria pela ética o que se obteve em ciência com o método experimental.
Ainda que não existisse uma maneira sólida de conhecer verdades morais, daí não se segue que tais verdades não existam. Existem verdades que não conhecemos inequivocamente. Terá chovido neste lugar 500 anos atrás? Há seguramente uma verdade acerca disto que nunca conheceremos. Apenas uma pequena percentagem de verdades são conhecidas. Logo, podem existir verdades morais objectivas mesmo que não possamos sabê-lo.
O ataque de Ana aos valores morais objectivos falhou. Mas isto não encerra o tema porque há mais argumentos. O debate sobre a objectividade dos valores é importante. Antes de terminar gostaria de clarificar alguns aspectos.
O ponto de vista objectivista afirma que algumas coisas são objectivamente um bem ou um mal, independentemente do que possamos pensar ou sentir; contudo, esta perspectiva está preparada para aceitar algum relativismo noutras áreas. Muitas regras sociais são claramente determinadas por padrões locais:
Regra local: "É proibido virar à direita com a luz vermelha."
Regra de etiqueta local: "Use o garfo apenas com a mão esquerda."
É necessário respeitar este gênero de regras locais; ao proceder de outra maneira podemos ferir as pessoas, quer porque chocamos contra os seus carros quer porque ferimos os seus sentimentos. Na concepção objectivista, a exigência de não magoar as outras pessoas é uma regra de um género diferente — uma regra moral — não determinada por costumes locais. Considera-se que as regras morais possuem mais autoridade que as leis governamentais ou as regras de etiqueta; são regras que qualquer sociedade deve respeitar se quiser sobreviver e prosperar. Se visitamos um lugar cujos padrões permitem magoar as pessoas por razões triviais, então esses padrões estão errados. O relativismo cultural disputa esta afirmação. A ideia é que os padrões locais são determinantes ainda que se trate de princípios morais básicos; assim, ferir outras pessoas por motivos triviais é um bem se esta atitude for socialmente aprovada.
Respeitar as diferenças culturais não nos transforma em relativistas culturais. Este é um falso estereótipo. O que caracteriza o relativismo cultural é a afirmação de que tudo o que é socialmente aprovado é um bem.
5. Ciências sociais
Há um estereótipo bastante divulgado que afirma que todos os especialistas em ciências sociais são relativistas culturais. Na verdade, os especialistas em ciências sociais defendem um âmbito variado de perspectivas sobre os fundamentos da ética. Muitos rejeitam este género de relativismo. O psicólogo moral Lawrence Kohlberg, por exemplo, considerava o relativismo cultural uma abordagem relativamente imatura da moralidade, típica de adolescentes e de adultos jovens.
Kohlberg afirmava que todos nós, independentemente da nossa cultura, desenvolvemos o pensamento moral através de uma série de estádios. Os primeiros quatro são os seguintes:
1-Punição/obediência: o "mal" é o que implica punição.
2-Recompensas: o "bem" é aquilo que nos dá o que desejamos.
3-Aprovação familiar: o "bem" é o que agrada à mamã e ao papá.
4-Aprovação social: o "bem" é aquilo que é socialmente aprovado.
Quando são muito novas, as crianças pensam na moral em termos de punições e obediência. Mais tarde, começam a pensar em termos de recompensa e, em seguida, em termos de aprovação familiar. Mais tarde ainda, na adolescência ou quando são adultos jovens, atingem a fase do relativismo cultural. Nesta fase, o "bem" coincide com o que é socialmente aprovado, o grupo de amigos em primeiro lugar, e depois a sociedade como um todo. É dada importância ao tipo de vestuário que se usa e ao género certo de música que se ouve — onde "género certo" significa seja o que for que é socialmente aprovado. São muitos os jovens estudantes liceais que se debatem com estas questões. Talvez por isso levem a sério o relativismo cultural — mesmo que o ponto de vista seja implausível quando o analisamos cuidadosamente.
Segundo Kohlberg, que fase sucede ao relativismo cultural? Por vezes, confusão e cepticismo; de facto, um curso de ética pode promover esta atitude. A seguir, passamos para o estádio 5 (semelhante ao utilitarismo das regras) ou para o estádio 6 (próximo da Regra de Ouro). Ambos procuram avaliar as normas convencionais racionalmente.
Não estou a referir Kohlberg com o objectivo de argumentar que, sendo correcta a sua perspectiva, o relativismo cultural está errado. Esta perspectiva é controversa. São vários os psicólogos que propõem uma sequência diferente dos estádios morais ou que rejeitam a ideia de que existem estádios. Além disso, o relativismo cultural já foi adequadamente demolido; não é necessária a ajuda da psicologia. Mencionei Kohlberg porque muitas pessoas se sentem pressionadas a aceitar o relativismo cultural em virtude do mito de que todos os especialistas em ciências sociais são relativistas culturais. Mas este género de consenso não existe. Kohlberg e muitos outros especialistas em ciências sociais rejeitam enfaticamente o relativismo cultural. Vêem nele um estádio imaturo do pensamento moral que nos faz conformar com a nossa sociedade.
A abordagem de Kohlberg coloca, no entanto, um problema acerca do significado de "bem". As pessoas podem querer dizer com esta palavra diferentes coisas em estádios diferentes; numa criança, "bem" pode significar "o que agrada à mamã e ao papá". Logo, devemos dirigir a nossa atenção para aquilo que as pessoas com maturidade moral têm em vista com esta palavra. Se o nosso argumento estiver correcto, uma pessoa com maturidade moral, quando utiliza este termo, não pretende afirmar que "bem" significa "socialmente aprovado".
6. Sumário
O relativismo cultural afirma que "bem" significa o que é "socialmente aprovado" pela maioria de uma dada cultura. O infantícidio não é objectivamente um bem ou um mal; pelo contrário, é um bem numa sociedade que o aprove e um mal numa sociedade onde não obtenha aprovação.
O relativismo cultural considera que a moral é um produto da cultura. Afirma que as diferentes sociedades discordam amplamente sobre a moral e que não temos meios claros para resolver as diferenças. Os relativistas culturais consideram-se pessoas tolerantes; olham para as outras culturas não como estando "erradas" mas como "diferentes".
Apesar de inicialmente plausível, o relativismo cultural tem vários problemas. Por exemplo, torna impossível discordar dos valores da nossa sociedade. Acontece, por vezes, afirmarmos que, apesar de socialmente aprovada, uma certa atitude não é boa. E isto está em contradição com o RC.
Além disso, o relativismo cultural implica que a intolerância e o racismo sejam um "bem" se a sociedade o aprovar. Leva-nos ainda a aceitar as normas da nossa sociedade acriticamente.
O relativismo cultural combate a ideia de que existem valores objectivos. O ataque pode ser desmontado com facilidade se o examinarmos cuidadosamente.
São muitos os especialistas em ciências sociais que se opõem ao relativismo cultural. O psicólogo Lawrence Kohlberg, por exemplo, defende que as pessoas de todas as culturas passam pelos mesmos estádios de desenvolvimento moral. O relativismo cultural representa um estádio relativamente baixo no qual simplesmente nos conformamos com os valores da sociedade em que vivemos. Em estádios mais avançados, o relativismo cultural é rejeitado; consideramos criticamente as normas aceites e pensamos pela nossa cabeça em questões de ordem moral. Como fazer tal coisa é o tema deste livro.
7. Orientação do estudo (questões)
Como é que o relativismo cultural define o "bem"?
De que métodos dispõe para formar crenças morais?
Ana foi educada para acreditar em valores objectivos. Indique duas experiências que a conduziram a aceitar o relativismo cultural? (ponto 1)
Quando Ana rejeitou os "valores objectivos" ou o "mito da objectividade", o quê, exactamente, foi rejeitado? Que significa dizer que "bom" é um termo relativo?
Por que razão o relativismo cultural nos torna, hipoteticamente, mais tolerantes a respeito de outras culturas?
Que benefícios hipotéticos extrai a sociedade de Ana do relativismo cultural?
Esquematize (numa página) as suas reacções iniciais ao relativismo cultural. Parece-lhe plausível? O que lhe agrada e desagrada nesta perspectiva?
Consegue pensar numa forma de mostrar a sua falsidade?
Por que razão o relativismo cultural nos conduz a conformar-nos com os valores da sociedade?
Na perspectiva do relativismo cultural o que significa "a tolerância é um bem"? Por que razão esta perspectiva não implica necessariamente que a tolerância é um bem?
Explique a história acerca de Rita Rebelde — e em que medida representa um problema para a perspectiva de Ana.
Como se pode aplicar o relativismo cultural ao racismo e à educação moral?
Explique o problema dos subgrupos sociais (ponto 3).
É possível estabelecer normas comuns entre sociedades com base no relativismo cultural?
Esboce os modos como um relativista cultural e um defensor da objectividade dos valores responderiam a esta questão: "O conhecimento de outras culturas pode permitir-nos corrigir erros nos valores da nossa própria cultura".
Qual a perspectiva de Martin Luther King acerca de valores objectivos? Em que medida difere da perspectiva de Ana? (ponto 4)
Explique e critique os três argumentos de Ana para rejeitar valores objectivos.
Na perspectiva objectivista, de que modo diferem as regras morais das regras legais e de etiqueta?
Será que todos os especialistas em ciências sociais são relativistas morais?
Qual o ponto de vista do psicólogo Kohlberg acerca do relativismo cultural?
Esboce os estádios de desenvolvimento moral de Kholberg.
Harry Gensler
Tradução de Paulo Ruas
Extraído de Ethics: A contemporary introduction, de Harry Gensler (Routledge, 1998)
Copyright © 1997–2005 criticanarede.com · ISSN 1749-8457Direitos reservados. Não reproduza sem citar a fonte.
John Carroll University, Cleveland, USA
Relativismo Cultural (RC): "Bem" significa "socialmente aprovado." Escolhe os teus princípios morais segundo aquilo que a tua sociedade aprova.
O relativismo cultural (RC) defende que o bem e o mal são relativos a cada cultura. O "bem" coincide com o que é "socialmente aprovado" numa dada cultura. Os princípios morais descrevem convenções sociais e devem ser baseados nas normas da nossa sociedade.
Começaremos por ouvir uma figura ficcional, a que chamarei Ana Relativista, e que nos explicará a sua crença no relativismo cultural. Ao ler o que se segue, ou explicações semelhantes, proponho-lhe que reflicta até que ponto esta é uma perspectiva plausível e se se harmoniza com o seu ponto de vista. Depois de ouvirmos o que Ana tem para dizer, consideraremos várias objecções ao RC.
1. Ana Relativista
O meu nome é Ana Relativista. Aderi ao relativismo cultural ao compreender a profunda base cultural que suporta a moralidade.
Fui educada para acreditar que a moral se refere a factos objectivos. Tal como a neve é branca, também o infanticídio é um mal. Mas as atitudes variam em função do espaço e do tempo. As normas que aprendi são as normas da minha própria sociedade; outras sociedades possuem diferentes normas. A moral é uma construção social. Tal como as sociedades criam diversos estilos culinários e de vestuário, também criam códigos morais distintos. Aprendi-o ao estudar antropologia e vivi-o no México quando estive lá a estudar.
Considere a minha crença de que o infanticídio é um mal. Ensinaram-me isto como se se tratasse de um padrão objectivo. Mas não é; é apenas aquilo que defende a sociedade a que pertenço. Quando afirmo "O infanticídio é um mal" quero dizer que a minha sociedade desaprova essa prática e nada mais. Para os antigos romanos, por exemplo, o infanticídio era um bem. Não tem sentido perguntar qual das perspectivas é "correcta". Cada um dos pontos de vista é relativo à sua cultura, e o nosso é relativo à nossa. Não existem verdades objectivas acerca do bem ou do mal. Quando dizemos o contrário, limitamo-nos a impor a nossas atitudes culturalmente adquiridas como se se tratassem de "verdades objectivas".
"Mal" é um termo relativo. Deixem-me explicar o que isto significa. Quero dizer que nada está absolutamente "à esquerda", mas apenas "à esquerda deste ou daquele" objecto. Do mesmo modo, nada é um mal em absoluto, mas apenas um mal nesta ou naquela sociedade particular. O infanticídio pode ser um mal numa sociedade e um bem noutra.
Podemos expressar esta perspectiva claramente através de uma definição: "X é um bem" significa "a maioria (na sociedade em questão) aprova X". Outros conceitos morais como "mal" ou "correcto", podem ser definidos da mesma forma. Note-se ainda a referência a uma sociedade específica. A menos que o contrário seja especificado, a sociedade em questão é aquela a que pertence a pessoa que formula o juízo. Quando afirmo "Hitler agiu erradamente" quero de facto dizer "de acordo com os padrões da minha sociedade".
O mito da objectividade afirma que as coisas podem ser um bem ou um mal de uma forma absoluta — e não relativamente a esta ou àquela cultura. Mas como poderemos saber o que é o bem ou o mal em termos absolutos? Como poderíamos argumentar a favor desta ideia sem pressupor os padrões da nossa própria sociedade? As pessoas que falam do bem e do mal de forma absoluta limitam-se a absolutizar as normas que vigoram na sua própria sociedade. Consideram as normas que lhes foram ensinadas como factos objectivos. Essas pessoas necessitam de estudar antropologia, ou viver algum tempo numa cultura diferente.
Quando adoptei o relativismo cultural tornei-me mais receptiva a aceitar outras culturas. Como muitos outros estudantes, eu partilhava a típica atitude "nós estamos certos e eles errados". Lutei arduamente contra isto. Apercebi-me de que o outro lado não está "errado" mas que é apenas "diferente". Temos, por isso, que considerar os outros a partir do seu próprio ponto de vista; ao criticá-los, limitamo-nos a impor-lhes padrões que a nossa própria sociedade construiu. Nós, os relativistas culturais, somos mais tolerantes.
Através do relativismo cultural tornei-me também mais receptiva às normas da minha própria sociedade. O RC dá-nos uma base para uma moral comum no interior da cada cultura — uma base democrática que abrange as ideias de todos e assegura que as normas tenham um amplo suporte. Assim, posso sentir-me solidária com pessoas que partilham comigo uma mesma comunidade, ainda que outros grupos possuam diferentes valores.
2. Objecções ao RC
Ana deu-nos uma formulação clara de um ponto de vista acerca da moral que muitas pessoas consideram atractiva. Reflectiu bastante acerca da moral e isto permite-nos aprender com ela. Contudo, estou convencido de que a sua perspectiva básica neste domínio está errada. Suponho que Ana acabará por concordar à medida que as suas ideias ficarem mais claras.
Deixem-me indicar o principal problema. RC força-nos a conformar-nos com as normas sociais — ou contradizemo-nos. Se "bem" e "socialmente aprovado" significam a mesma coisa, seja o que for ao qual o primeiro termo se aplique também o segundo lhe é aplicável.
Assim, o seguinte raciocínio seria válido:
Isto e aquilo são socialmente aprovados. Logo, isto e aquilo são bens.
Se o relativismo cultural fosse verdadeiro, não poderíamos consistentemente discordar dos valores da nossa sociedade. Mas este resultado é absurdo. Claro que é possível consistentemente discordar dos valores da nossa sociedade. Podemos afirmar consistentemente que algo é socialmente aprovado e negar que seja um "bem". Isto não é possível se o RC for verdadeiro.
Ana poderia aceitar esta consequência implausível e dizer que é contraditório discordar moralmente da maioria. Mas esta seria uma consequência especialmente difícil de ser aceite. Ana teria de aceitar que os defensores dos direitos civis estariam a contradizer-se ao discordarem da perspectiva aceite pelos segregacionistas. E teria de aceitar a perspectiva da maioria em todas as questões morais — mesmo que perceba que a maioria é ignorante.
Suponha que Ana tinha aprendido que a maioria das pessoas da sua cultura aprovam a intolerância e também a ideia de ridicularizar pessoas de outras culturas. Teria ainda assim de concluir que a intolerância é um bem (apesar de esta atitude contrariar as suas próprias intuições).
A intolerância é socialmente aprovada. Logo, a intolerância é um bem.
Ana teria que aceitar a conclusão (aceitar que a intolerância é boa) ou rejeitar o relativismo cultural. Se quiser ser consistente é necessário modificar pelo menos uma destas perspectivas.
Eis uma dificuldade ainda mais grave. Imaginemos que Ana encontrava alguém chamada Rita Rebelde, oriunda de um país Nazi. Na terra natal de Rita, os judeus e os críticos do governo são colocados em campos de concentração. Sucede que a maioria das pessoas, mal informadas sobre o que se passa, aprovam esta política. Rita é uma dissidente. Defende que esta política, apesar do apoio da maioria das pessoas, está errada. Se Ana quisesse aplicar o RC a esta situação particular teria que dizer a Rita algo do género:
Rita, a palavra "bem" refere-se ao que é aprovado pela tua cultura. Como essa cultura aprova o racismo e a opressão, deves aceitar esta atitude como um bem. Não podes pensar diferentemente. A perspectiva minoritária está sempre errada — o "bem" é, por definição, aquilo que socialmente é aprovado.
A perspectiva do RC é intolerante para com as minorias (que automaticamente estão erradas) e forçaria Rita a aceitar o racismo e a opressão como sendo bons. Isto decorre da definição de "bem" como algo "socialmente aprovado". Ao compreendê-lo, talvez abandone o RC.
O racismo é um bom teste para a ética. Uma perspectiva ética satisfatória deve fornecer-nos os meios para combater actos racistas. O RC falha neste aspecto, dado estar comprometido com a tese segundo a qual as acções racialmente motivadas são boas numa dada sociedade se essa sociedade as aprova. Se Rita seguisse o RC, teria que concordar com a atitude racista da maioria, ainda que as pessoas estivessem mal informadas ou fossem ignorantes. O relativismo cultural parece bastante insatisfatório neste ponto.
A educação moral é também um bom teste ético. Se aceitassemos o RC, como educaríamos os nossos filhos em questões de ordem moral? Ensinar-lhes-íamos que pensassem e agissem de acordo com as normas da sua sociedade, qualquer que esta fosse. Estaríamos a ensiná-los a serem conformistas. Ensinar-lhes-íamos, por exemplo, que os seguintes raciocínios são correctos:
"A minha sociedade aprova A; logo, A é bom."
"O meu grupo aprova que nos embebedemos às sextas-feiras à noite e conduzamos no regresso a casa; logo, esta é uma boa atitude."
"A minha sociedade é Nazi e aprova o racismo; logo, o racismo é um bem."
Aceitar o RC priva-nos de exercer qualquer sentido crítico acerca das normas da nossa sociedade. Estas normas não podem estar erradas — ainda que resultem da estupidez e da ignorância.
Do mesmo modo, as normas de outras sociedades (mesmo as da terra natal de Rita) não podem estar erradas ou serem criticadas. O RC contraria o espírito crítico que é próprio da filosofia.
3. Diversidade moral
O relativismo cultural considera o mundo como algo que está dividido de uma forma nítida em sociedades distintas. Em cada uma delas não existe desacordo em questões morais ou apenas em pequena escala, dado que a perspectiva maioritária determina o que é considerado um bem ou um mal nessa sociedade. Mas o mundo não é assim. Pelo contrário, o mundo é uma mistura confusa de sociedades e grupos sobrepostos; e os indivíduos não seguem necessariamente o ponto de vista da maioria.
O relativismo cultural ignora o problema dos subgrupos. Todos nós fazemos parte de grupos sobrepostos. Cada um de nós, por exemplo, faz parte de uma nação, de um estado, de uma cidade, de um bairro. Além disso, cada um de nós pertence a várias comunidades, profissionais, religiosas, grupos de amigos, etc. É frequente estes grupos terem valores que estão em conflito. De acordo com o RC, quando afirmo "O racismo é um mal" pretendo dizer "A minha sociedade desaprova o racismo". Mas a que sociedade nos referimos? Talvez a maioria das pessoas que pertencem à minha comunidade religiosa e ao meu país desaprove o racismo, enquanto a maioria dos que fazem parte do meu grupo profissional e familiar o aprovem. O relativismo cultural poderia dar-nos meios para nos conduzirmos correctamente no plano moral apenas se cada um de nós pertencesse a uma única sociedade. Mas o mundo é bastante mais complicado do que este quadro sugere. Até certo ponto, todos nós somos indivíduos multi-culturalizados.
O RC não tenta estabelecer normas comuns entre sociedades. À medida que a tecnologia invade o planeta, as disputas morais entre diferentes sociedades têm tendência para se tornarem mais importantes. O país A aprova a existência de direitos iguais para as mulheres (ou outras raças e religiões), mas o país B desaprova-o. Que deve fazer uma companhia multinacional que opera nos dois países? Ou as sociedades A e B têm conflitos de valores que conduzem à guerra. Dado que o relativismo cultural pouco nos ajuda acerca destes problemas, oferece-nos uma base muito pobre para responder às exigências da vida no século XXI.
Como responder à diversidade cultural entre sociedades? Ana rejeita a atitude dogmática do género "Nós estamos certos e eles errados". Percebe a necessidade de compreender as sociedades e culturas diferentes da sua própria a partir do ponto de vista dessas culturas e sociedades. Estas são ideias positivas. Mas, em seguida, afirma também que nenhum dos lados pode estar errado. Isto limita a nossa capacidade para aprender. Se a nossa cultura não pode estar errada, não pode aprender com os seus próprios erros. Compreender as normas de outras culturas não permitirá ajudar-nos a corrigir os erros das nossas próprias sociedades.
Aqueles que acreditam em valores objectivos vêem estes assuntos de um modo diferente. Poderiam defender algo como isto:
Existem verdades para descobrir no domínio moral, mas nenhuma cultura possui o monopólio destas verdades. As diferentes culturas necessitam de aprender umas com as outras. Para que tomemos consciência dos erros e dos nossos valores, é necessário conhecer como procedem as outras culturas, e de que forma reagem ao que nós fazemos. Aprender com diferentes culturas pode ajudar-nos a corrigir os nossos valores e a aproximar-nos da verdade acerca do modo como devemos viver.
4. Valores objectivos
É necessário falar um pouco mais acerca da objectividade dos valores. Este é um tópico bastante vasto e importante.
A perspectiva objectivista (também designada realismo moral) defende que certas coisas são objectivamente um bem ou objectivamente um mal, independentemente do que possamos sentir ou pensar. Martin Luther King, por exemplo, defendia que o racismo está objectivamente errado. Que o racismo esteja errado era para ele um facto. Qualquer pessoa e cultura que aprovasse o racismo estariam erradas. Ao dizer isto, King não estava a absolutizar as normas da nossa sociedade; discordava, pelo contrário, das normas amplamente aceites. Fazia apelo a uma verdade mais elevada acerca do bem e do mal, uma verdade que não estava dependente do modo de pensar ou sentir das pessoas neste ou naquele momento. Fazia apelo a valores objectivos.
Ana rejeita a crença em valores objectivos e chama-lhe "o mito da objectividade". Nesta perspectiva, as coisas são um bem ou um mal apenas relativamente a esta ou àquela cultura. Não são objectivamente boas ou más, como King pensava. Mas serão os valores objectivos realmente um "mito"? Para responder a isto convém examinar o raciocínio de Ana.
Ana tinha três argumentos contra a objectividade dos valores. Não existem verdades morais objectivas porque:
-A moral é um produto da cultura;
-As sociedades discordam amplamente acerca da moralidade;
-Não existe uma maneira clara de resolver diferenças morais.
De facto, qualquer destes argumentos cede com facilidade se o examinarmos cuidadosamente.
1) "Dado que a moral é um produto da cultura, não podem existir verdades morais objectivas". O problema deste raciocínio é que um produto da cultura pode expressar uma verdade objectiva. Qualquer livro é um produto cultural; no entanto, muitos livros exprimem verdades objectivas. Da mesma forma, um código moral pode ser um produto cultural e expressar verdades objectivas acerca da maneira como as pessoas devem viver.
2) "Visto as diferentes culturas discordarem amplamente sobre a moral, não podem existir verdades morais objectivas." O simples facto de existir desacordo não mostra, no entanto, que não existe verdade neste domínio e que nenhum dos lados está certo ou errado. O extenso desacordo entre diferentes culturas acerca de antropologia, religião, e até em física, não impede a existência de verdades objectivas nestes domínios. Logo, o desacordo em questões morais não mostra que não exista verdade nestes assuntos.
Podemos igualmente questionar-nos se as diferentes culturas divergem assim tão profundamente sobre a moral. Na maior parte das culturas existem normas muito semelhantes quanto a matar, roubar e mentir. E muitas das diferenças podem ser explicadas em resultado da aplicação dos mesmos valores básicos a diferentes situações. A Regra de Ouro "Trata os outros como queres ser tratado" é quase universalmente aceite em todo o mundo. E as diferentes culturas que constituem as Nações Unidas concordaram em larga medida a respeito dos direitos humanos mais elementares.
3) "Como não existe uma maneira clara de resolver diferenças morais, não é possível que existam verdades morais objectivas." Mas podem existir maneiras claras de resolver pelo menos um grande número de diferenças morais. Precisamos de uma forma de raciocinar em ética que faça apelo às pessoas inteligentes e com suficiente abertura de espírito de todas as culturas — isto faria pela ética o que se obteve em ciência com o método experimental.
Ainda que não existisse uma maneira sólida de conhecer verdades morais, daí não se segue que tais verdades não existam. Existem verdades que não conhecemos inequivocamente. Terá chovido neste lugar 500 anos atrás? Há seguramente uma verdade acerca disto que nunca conheceremos. Apenas uma pequena percentagem de verdades são conhecidas. Logo, podem existir verdades morais objectivas mesmo que não possamos sabê-lo.
O ataque de Ana aos valores morais objectivos falhou. Mas isto não encerra o tema porque há mais argumentos. O debate sobre a objectividade dos valores é importante. Antes de terminar gostaria de clarificar alguns aspectos.
O ponto de vista objectivista afirma que algumas coisas são objectivamente um bem ou um mal, independentemente do que possamos pensar ou sentir; contudo, esta perspectiva está preparada para aceitar algum relativismo noutras áreas. Muitas regras sociais são claramente determinadas por padrões locais:
Regra local: "É proibido virar à direita com a luz vermelha."
Regra de etiqueta local: "Use o garfo apenas com a mão esquerda."
É necessário respeitar este gênero de regras locais; ao proceder de outra maneira podemos ferir as pessoas, quer porque chocamos contra os seus carros quer porque ferimos os seus sentimentos. Na concepção objectivista, a exigência de não magoar as outras pessoas é uma regra de um género diferente — uma regra moral — não determinada por costumes locais. Considera-se que as regras morais possuem mais autoridade que as leis governamentais ou as regras de etiqueta; são regras que qualquer sociedade deve respeitar se quiser sobreviver e prosperar. Se visitamos um lugar cujos padrões permitem magoar as pessoas por razões triviais, então esses padrões estão errados. O relativismo cultural disputa esta afirmação. A ideia é que os padrões locais são determinantes ainda que se trate de princípios morais básicos; assim, ferir outras pessoas por motivos triviais é um bem se esta atitude for socialmente aprovada.
Respeitar as diferenças culturais não nos transforma em relativistas culturais. Este é um falso estereótipo. O que caracteriza o relativismo cultural é a afirmação de que tudo o que é socialmente aprovado é um bem.
5. Ciências sociais
Há um estereótipo bastante divulgado que afirma que todos os especialistas em ciências sociais são relativistas culturais. Na verdade, os especialistas em ciências sociais defendem um âmbito variado de perspectivas sobre os fundamentos da ética. Muitos rejeitam este género de relativismo. O psicólogo moral Lawrence Kohlberg, por exemplo, considerava o relativismo cultural uma abordagem relativamente imatura da moralidade, típica de adolescentes e de adultos jovens.
Kohlberg afirmava que todos nós, independentemente da nossa cultura, desenvolvemos o pensamento moral através de uma série de estádios. Os primeiros quatro são os seguintes:
1-Punição/obediência: o "mal" é o que implica punição.
2-Recompensas: o "bem" é aquilo que nos dá o que desejamos.
3-Aprovação familiar: o "bem" é o que agrada à mamã e ao papá.
4-Aprovação social: o "bem" é aquilo que é socialmente aprovado.
Quando são muito novas, as crianças pensam na moral em termos de punições e obediência. Mais tarde, começam a pensar em termos de recompensa e, em seguida, em termos de aprovação familiar. Mais tarde ainda, na adolescência ou quando são adultos jovens, atingem a fase do relativismo cultural. Nesta fase, o "bem" coincide com o que é socialmente aprovado, o grupo de amigos em primeiro lugar, e depois a sociedade como um todo. É dada importância ao tipo de vestuário que se usa e ao género certo de música que se ouve — onde "género certo" significa seja o que for que é socialmente aprovado. São muitos os jovens estudantes liceais que se debatem com estas questões. Talvez por isso levem a sério o relativismo cultural — mesmo que o ponto de vista seja implausível quando o analisamos cuidadosamente.
Segundo Kohlberg, que fase sucede ao relativismo cultural? Por vezes, confusão e cepticismo; de facto, um curso de ética pode promover esta atitude. A seguir, passamos para o estádio 5 (semelhante ao utilitarismo das regras) ou para o estádio 6 (próximo da Regra de Ouro). Ambos procuram avaliar as normas convencionais racionalmente.
Não estou a referir Kohlberg com o objectivo de argumentar que, sendo correcta a sua perspectiva, o relativismo cultural está errado. Esta perspectiva é controversa. São vários os psicólogos que propõem uma sequência diferente dos estádios morais ou que rejeitam a ideia de que existem estádios. Além disso, o relativismo cultural já foi adequadamente demolido; não é necessária a ajuda da psicologia. Mencionei Kohlberg porque muitas pessoas se sentem pressionadas a aceitar o relativismo cultural em virtude do mito de que todos os especialistas em ciências sociais são relativistas culturais. Mas este género de consenso não existe. Kohlberg e muitos outros especialistas em ciências sociais rejeitam enfaticamente o relativismo cultural. Vêem nele um estádio imaturo do pensamento moral que nos faz conformar com a nossa sociedade.
A abordagem de Kohlberg coloca, no entanto, um problema acerca do significado de "bem". As pessoas podem querer dizer com esta palavra diferentes coisas em estádios diferentes; numa criança, "bem" pode significar "o que agrada à mamã e ao papá". Logo, devemos dirigir a nossa atenção para aquilo que as pessoas com maturidade moral têm em vista com esta palavra. Se o nosso argumento estiver correcto, uma pessoa com maturidade moral, quando utiliza este termo, não pretende afirmar que "bem" significa "socialmente aprovado".
6. Sumário
O relativismo cultural afirma que "bem" significa o que é "socialmente aprovado" pela maioria de uma dada cultura. O infantícidio não é objectivamente um bem ou um mal; pelo contrário, é um bem numa sociedade que o aprove e um mal numa sociedade onde não obtenha aprovação.
O relativismo cultural considera que a moral é um produto da cultura. Afirma que as diferentes sociedades discordam amplamente sobre a moral e que não temos meios claros para resolver as diferenças. Os relativistas culturais consideram-se pessoas tolerantes; olham para as outras culturas não como estando "erradas" mas como "diferentes".
Apesar de inicialmente plausível, o relativismo cultural tem vários problemas. Por exemplo, torna impossível discordar dos valores da nossa sociedade. Acontece, por vezes, afirmarmos que, apesar de socialmente aprovada, uma certa atitude não é boa. E isto está em contradição com o RC.
Além disso, o relativismo cultural implica que a intolerância e o racismo sejam um "bem" se a sociedade o aprovar. Leva-nos ainda a aceitar as normas da nossa sociedade acriticamente.
O relativismo cultural combate a ideia de que existem valores objectivos. O ataque pode ser desmontado com facilidade se o examinarmos cuidadosamente.
São muitos os especialistas em ciências sociais que se opõem ao relativismo cultural. O psicólogo Lawrence Kohlberg, por exemplo, defende que as pessoas de todas as culturas passam pelos mesmos estádios de desenvolvimento moral. O relativismo cultural representa um estádio relativamente baixo no qual simplesmente nos conformamos com os valores da sociedade em que vivemos. Em estádios mais avançados, o relativismo cultural é rejeitado; consideramos criticamente as normas aceites e pensamos pela nossa cabeça em questões de ordem moral. Como fazer tal coisa é o tema deste livro.
7. Orientação do estudo (questões)
Como é que o relativismo cultural define o "bem"?
De que métodos dispõe para formar crenças morais?
Ana foi educada para acreditar em valores objectivos. Indique duas experiências que a conduziram a aceitar o relativismo cultural? (ponto 1)
Quando Ana rejeitou os "valores objectivos" ou o "mito da objectividade", o quê, exactamente, foi rejeitado? Que significa dizer que "bom" é um termo relativo?
Por que razão o relativismo cultural nos torna, hipoteticamente, mais tolerantes a respeito de outras culturas?
Que benefícios hipotéticos extrai a sociedade de Ana do relativismo cultural?
Esquematize (numa página) as suas reacções iniciais ao relativismo cultural. Parece-lhe plausível? O que lhe agrada e desagrada nesta perspectiva?
Consegue pensar numa forma de mostrar a sua falsidade?
Por que razão o relativismo cultural nos conduz a conformar-nos com os valores da sociedade?
Na perspectiva do relativismo cultural o que significa "a tolerância é um bem"? Por que razão esta perspectiva não implica necessariamente que a tolerância é um bem?
Explique a história acerca de Rita Rebelde — e em que medida representa um problema para a perspectiva de Ana.
Como se pode aplicar o relativismo cultural ao racismo e à educação moral?
Explique o problema dos subgrupos sociais (ponto 3).
É possível estabelecer normas comuns entre sociedades com base no relativismo cultural?
Esboce os modos como um relativista cultural e um defensor da objectividade dos valores responderiam a esta questão: "O conhecimento de outras culturas pode permitir-nos corrigir erros nos valores da nossa própria cultura".
Qual a perspectiva de Martin Luther King acerca de valores objectivos? Em que medida difere da perspectiva de Ana? (ponto 4)
Explique e critique os três argumentos de Ana para rejeitar valores objectivos.
Na perspectiva objectivista, de que modo diferem as regras morais das regras legais e de etiqueta?
Será que todos os especialistas em ciências sociais são relativistas morais?
Qual o ponto de vista do psicólogo Kohlberg acerca do relativismo cultural?
Esboce os estádios de desenvolvimento moral de Kholberg.
Harry Gensler
Tradução de Paulo Ruas
Extraído de Ethics: A contemporary introduction, de Harry Gensler (Routledge, 1998)
Copyright © 1997–2005 criticanarede.com · ISSN 1749-8457Direitos reservados. Não reproduza sem citar a fonte.
25.7.06
Lucio Colletti. Ciência e liberdade.

Lucio Colletti. Scienza e libertà.
Roma, Ideazione, 2004.
Pino Bongiorno e Aldo G. Ricci.
Lucio Colletti (1924-2001), um dos filósofos mais importantes da Itália e um dos poucos a serem reconhecidos internacionalmente (à parte um certo provincianismo inglês, apenas ele e Benedetto Croce figuram, por exemplo, no Oxford companion to philosophy, de Ted Honderich, de 1995), acaba de receber uma homenagem, três anos após sua morte, com a publicação do livro Lucio Colletti. Scienza e libertà, de Pino Bongiorno e Aldo G. Ricci (Roma, Ideazione, 2004). Não se trata, como poderia sugerir o título, de um trabalho biográfico, mas da reconstituição do itinerário de um dos principais protagonistas da cena político-intelectual italiana na segunda metade do século XX.
Colletti encantou-se pelo marxismo entre os anos 40/50 do século XX, na esteira de Galvano Della Volpe, crítico do idealismo hegeliano e das concepções historicistas que marcavam o comunismo italiano, aos quais a vertente dellavolpiana tentou contrapor uma visão do marxismo como ciência. Profundo conhecedor de Hegel e de Marx, ele radicalizaria essa análise, chegando à conclusão, nos início dos anos 70, de que este era, no fundo, um epígono do primeiro. De fato, assumindo o método dialético, Marx e o marxismo distanciavam-se das ciências -- absolutamente incompatíveis com a dialética --, por pressuporem que a realidade é autocontraditória. O real, como já ensinara Kant, comporta apenas conflitos, lutas, choques, isto é, «oposições reais»; contradições, jamais.
Admitindo a existência de contradições na realidade, o marxismo fazia-se portador de uma filosofia da história, introduzindo no processo histórico uma finalidade, uma meta. A dialética hegeliana, que em vão Marx tentara «inverter» em termos materialistas, fatalmente implicava uma visão finalística: o comunismo, a sociedade sem classes e sem Estado eram o corolário da história. Os comunistas (europeus, latino-americanos), enfim, se distinguiam de todos os outros pelo fato de se julgarem a «consciência da história», conhecendo-lhe as «leis de movimento», seu «sentido» e sua «racionalidade» interna, além de saber o «fim» que estava destinada a alcançar. Nesse quadro, fatos e valores eram uma só coisa (na verdade, algo já percebido bem antes por Hans Kelsen, cujo mérito Colletti reconhece).
O pensador italiano não hesitaria em levar tais conclusões às últimas conseqüências, principalmente a partir da entrevista a Perry Anderson, publicada na revista inglesa New Left Review (e reproduzida no livro Intervista político-filosofica, de 1974, juntamente com um ensaio sobre «Marxismo e dialética»). Rompendo com o marxismo, aproximar-se-ia cada vez mais de uma perspectiva liberal, laica, desencantada, ciente de que a ação humana, tanto quanto o conhecimento, comporta limites. Quanto à visão da história, não trairia sua memória se a aproximássemos da metáfora utilizada por outro filósofo italiano, Norberto Bobbio (falecido em janeiro de 2004), que a compara a um labirinto. Acreditamos saber que existe uma saída, diz Bobbio em sua autobiografia (Diário de um século, Rio de Janeiro, Campus, 1998), mas ninguém sabe onde está, e, não havendo alguém do lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la nós mesmos. Eis a conclusão: «o que o labirinto nos ensina não é onde está a saída, mas quais os caminhos que não levam a lugar algum».
Desfecho niilista? Não. Apenas o ceticismo que faz bem às mentes livres, infensas às ideologias e aos dogmatismos. O «sentido da vida» consiste em não desistir de perseguir nossos valores e nossos fins (morais, políticos etc.), mesmo sabendo-se que não possuem qualquer garantia, nenhuma segurança ontológica: tudo depende apenas de nosso empenho e de nossas capacidades. Com o mesmo rigor com que analisou a «conexão Marx-Hegel», procurando nela destrinçar elementos científicos, Colletti desmontaria, ponto por ponto, toda a construção que erigira, revelando ter sido uma tentativa vã, «uma grande ilusão». (A propósito, tomo a liberdade de indicar meu livro O declínio do marxismo e a herança hegeliana [Florianópolis, Editora da UFSC, 1999], traduzido na Itália pela Mondadori em 2001 com o título Perché il marxismo ha fallito. Lucio Colletti e la storia di uma grande illusione).
Bongiorno e Ricci acertam em dizer que «ciência e liberdade inspiraram por vinte e cinco anos o marxismo de Colletti», e que «ciência e liberdade o afundaram». O marxismo collettiano, «obstinado e dramático», residiu neste laço entre ciência e liberdade. Percebendo que o núcleo de sua teoria era a negação deste enlaçamento, não hesitou em expô-la como neve ao sol, assumindo progressivamente uma concepção da existência e da política mesclada a um desencantamento weberiano e a um ceticismo humeano: «um confiar na ciência sem as ilusões do cientismo, um liberalismo não fideísta». Não lhe faltaram críticas, ataques e sarcasmos, ainda mais pela paradoxal decisão que tomaria posteriormente.
Convencido de que a Itália necessitava de reformas institucionais para fortalecer o executivo e a social-democracia e livrar-se da partitocrazia alimentada por comunistas e democratas-cristãos (com a máfia ao fundo), Colletti se aproximaria do PSI nos anos 80 -- colaborando intensamente na imprensa -- e, mais tarde, da Força Itália de Berlusconi, partido pelo qual seria eleito deputado em 1996, junto a outros professores filósofos e historiadores, como Vittorio Mathieu, Marcello Pera e Piero Melograni, todos movidos pelo interesse por uma «reforma liberal» do Estado italiano. Inconformista e incômodo, Colletti não tardaria, porém, a dissentir do partido e de Berlusconi, com o qual suas relações acabariam sendo «péssimas» (segundo carta a mim enviada poucos meses antes de falecer). Mestre do desencantamento e da ironia, envolto num crescente pessimismo, o pensador seria obrigado a admitir, uma vez mais, que as idéias liberais ainda estavam distantes do «pastiche italiano».
Copyright © 2005 Orlando Tambosi
Orlando Tambosi. «Recensão a Pino Bongiorno e Aldo G. Ricci, Lucio Colletti. Scienza e libertà». Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in linea], anno 7 (2005) [inserito il 7 luglio 2005], disponibile su World Wide Web:
14.7.06
Seleção natural em tempo real

Pássaros exibem seleção natural em tempo real
Rosemary Grant/Divulgação
O Geospiza fortis ficou com o bico reduzido após disputa por comida
Cientistas flagram mudança evolutiva de grande rapidez em aves de Galápagos.Espécie que rendeu estudo pode ter inspirado idéias fundamentais de Darwin; trabalho ilustra conceito clássico da biologia.
RAFAEL GARCIA
DA REPORTAGEM LOCAL (Folha de S. Paulo, 14/07/06).
Um casal de biólogos norte-americanos conseguiu observar pela primeira vez um fenômeno da seleção natural entre espécies de pássaros do início ao fim. Peter e Rosemary Grant, da Universidade de Princeton, verificaram a redução do tamanho médio de bicos em uma população de tentilhões-da-terra-médios (Geospiza fortis) no arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. As aves são as mesmas estudadas pelo naturalista Charles Darwin no século 19.
O fenômeno observado pelos pesquisadores é chamado de deslocamento de caráter (ou "character displacement", já que biólogos não costumam traduzi-lo). É o nome dado àquilo que acontece quando uma espécie adquire características diferentes em razão da competição com outra.
Os Grant, que trabalham em Galápagos desde a década de 1970, descrevem como uma população de G. fortis na pequena ilha de Daphne Maior se viu ameaçada por invasores de outra espécie. Os "imigrantes" eram tentilhões-da-terra-grandes (G. magnirostris), que haviam chegado em 1982 de uma ilha vizinha.
A descrição do que aconteceu está na edição de hoje da revista "Science" (http://www.sciencemag.org/). Durante muitos anos as duas populações conviveram sem problemas porque a oferta de sua comida preferida -grandes sementes de árvore do gênero Tribulus- era abundante. Mas, em um período de seca em 2003, os pássaros quase esgotaram o estoque do recurso. A fome acabou então dizimando centenas de G. fortis, porque os G. manirostris eram mais hábeis em achar e quebrar as raras sementes grandes.
Após o fim da seca, o que aconteceu é que a porcentagem de G. fortis com bico pequeno aumentou consideravelmente. No período de estresse, os pássaros precisavam de um bico bom para quebrar sementes pequenas, já que não tinham condições de competir pelas grandes. E a característica acabou permanecendo.O deslocamento de caráter já havia sido postulado teoricamente e observado em laboratório, mas é a primeira vez que foi relatado na natureza. "Esse estudo vai se tornar um clássico para os manuais instantaneamente", disse o biólogo Jonathan Losos, da Universidade Harvard, em comentário na "Science".
Segundo a ornitóloga Elizabeth Höfling, da USP, o estudo é uma confirmação importante de mecanismos que estão por trás do processo de origem das espécies. "Os dados que os pesquisadores têm -medidas de tamanho de bico e tudo o mais- suportam o papel da competição nos modelos de especiação e das irradiações adaptativas [distribuição de espécies entre diferentes nichos ecológicos]", diz.
Sorte e competência.
A descoberta de Peter e Rosemary Grant parece um caso típico de trabalho científico em que a sorte favorece quem está preparado. Os pesquisadores não esperavam observar o fenômeno desses em um período tão rápido e nem teriam como se preparar para tal em pouco tempo, mas os dados que haviam acumulado em décadas de pesquisas os ajudaram a interpretar o que aconteceu. "Tivemos a sorte de estar numa posição favorável, em que poderíamos estudar todo o processo do inicio ao fim", disse Peter.
O que pareceu fascinar mais outros biólogos, porém, é a grande velocidade com que o fenômeno do deslocamento de caráter ocorreu. "Eu acreditava que fosse demorar muito mais", comentou na "Science" o biólogo David Pfening, da Universidade da Carolina do Norte. A redução média de 5% no tamanho de bico, considerada drástica pelos biólogos, ocorreu no intervalo de cerca de um ano, praticamente de uma geração para a outra.
Os tentilhões, afinal de contas, parecem merecer a fama que ganharam na biologia. Por muito tempo historiadores acreditaram que essas aves teriam inspirado Darwin na criação da teoria da evolução, mas seus escritos não deixam isso claro. No caso dos Grant, porém, a inspiração é indiscutível.
5.7.06
O desafio de gerar, aplicar e divulgar o conhecimento científico.

A ciência e a tecnologia hoje estão tão imbricadas que já se tornou comum aplicar-lhes a sigla C&T. Essa recente associação, contudo, tende a ofuscar algumas diferenças fundamentais. A ciência, como pesquisa básica e processo racional de conhecimento, produz idéias, hipóteses e teorias, enquanto a tecnologia produz objetos e bens utilizáveis. A tecnologia possui história própria e é muito mais antiga que a ciência, originalidade do gênio grego. É tão antiga quanto a própria humanidade: da agricultura primitiva ao domínio dos metais, da engenharia chinesa às catedrais do Renascimento, seus êxitos não dependeram de ciência. Pode-se mesmo dizer que esta não teve algum impacto sobre a tecnologia até o século XIX.
As grandes catedrais, com suas enormes cúpulas e altas naves, não foram construídas com base em elaborados princípios científicos, mas por engenheiros que se valiam da experiência prática, isto é, dedicavam-se a fins práticos e não ao conhecimento. Empregava-se então uma espécie de "teorema dos cinco minutos": se uma estrutura permanecia de pé por cinco minutos depois de retirados os suportes, podia-se supor que assim permanecesse para sempre 1 . Em poucas palavras, a tecnologia é voltada para as necessidades e demandas do mercado, ao passo que a ciência busca, antes de tudo, o conhecimento como um bem em si mesmo.
O recente matrimônio entre ciência e tecnologia pode ser ilustrado com a história da comunicação radiofônica. As ondas eletromagnéticas não foram descobertas por experimentação, mas a partir das equações elaboradas pelo físico escocês Maxwell (1831-79). Em 1887, Hertz (1857-94) demonstraria a propagação de tais ondas, sem atentar, contudo, para a sua importância para as comunicações. Coube ao italiano Marconi (1874-1937) lançar as bases para seu aproveitamento industrial e comercial. Desde o final do século XIX, portanto, C&T andam de mãos dadas - com as bênçãos da indústria, que na mesma época fundaria as primeiras empresas baseadas em conhecimento científico (nas áreas de química e eletricidade).
Hoje, nada de realmente novo existe que não seja resultado da pesquisa científica. A ciência e a tecnologia revolucionam permanentemente todos os setores: social, econômico, político, militar, industrial, além de cultural e intelectual. Mas é necessário reconhecer que, apesar de todos os avanços, o modo científico de pensar ainda está longe de ser universal. A tecnologia já conquistou os corações, mas a ciência ainda não alcançou as mentes: proliferam as pseudociências, a superstição, as crendices e o charlatanismo, que mantêm grande parte da humanidade com os pés na caverna. E nem se fale na anticiência dos letrados, pretensos humanistas, cuja visão de futuro é a nostalgia de um passado idealizado.
O fato é que a cultura científica, de que o homem necessita para compreender o mundo em que vive e nele sobreviver, não se consolidou nem mesmo nos países economicamente mais avançados. Segundo a Associação Americana para o Progresso da Ciência (AAS), em seu ambicioso Project 2061, são pressupostos dessa cultura: familiarizar-se com o mundo natural, reconhecendo sua diversidade e sua unidade; entender os conceitos fundamentais e os princípios científicos; perceber a inter-relação entre a matemática, as ciências e a tecnologia; levar em conta que a ciência e a tecnologia são empreendimentos humanos e, como tais, sujeitas a erros e limitações; e, finalmente, adquirir a capacidade de pensar de acordo com as exigências do rigor científico. Peculiaridades regionais à parte, no mesmo sentido caminha o Projeto 2006, recentemente lançado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
Ocorre que, diante de tais exigências, apenas 7% dos adultos britânicos ou norte-americanos podem considerar-se medianamente cultos em ciência. Menos de metade da população norte-americana sabe, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol uma vez por ano - isto num país que já conquistou mais de uma centena de prêmios Nobel. Claro está que um dos grandes desafios - para todos os países - é a divulgação e a compreensão pública da ciência, algo que diz respeito, em primeiro lugar, aos próprios cientistas, mas passa, também, por um incentivo ao jornalismo científico. A atividade de divulgação é tão importante quanto a produção científica e tecnológica, e não é exagerado igualar seu status para o cômputo do desempenho acadêmico do pesquisador 2. Sabe-se que a tarefa é complexa e gigantesca, implicando até mesmo uma profunda reformulação dos currículos escolares desde o ciclo básico, mas é imprescindível - o labirinto da história nos ensina, afinal, que os povos podem regredir a estados pré-científicos 3.
Os artigos publicados na revista Nexus (edição de dezembro), abrangendo amplas áreas de conhecimento (da Engenharia de Materiais à Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação, da Tecnologia de Alimentos à Farmácia e à Química, da Administração ao Direito e às Relações Internacionais), apontam para a necessidade de uma maior integração entre universidade e empresas no enfrentamento dos desafios da indústria brasileira e na geração de novas oportunidades, tanto em C&T quanto em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
Nesse aspecto, ainda há um longo caminho a percorrer, envolvendo três agentes: o Estado, ao qual cabe gerar e aplicar políticas públicas de ciência e tecnologia, além de financiá-las; a Universidade, à qual cabe formar pessoal qualificado e criar ciência básica; e a Indústria, que deve investir na criação de tecnologia, além de realizar pesquisa aplicada, incorporar pessoal qualificado e, desse modo, ganhar competitividade.
O problema é que o setor privado tem investido pouco no desenvolvimento científico e tecnológico, em parte devido à instabilidade econômica nacional e à contínua mudança de regras. Especialistas de todo o país são unânimes em afirmar que há pouca pesquisa no ambiente empresarial. Os dados são reveladores: no Brasil, dos cerca de 90 mil cientistas e engenheiros ativos em P&D, apenas 9 mil trabalham diretamente em empresas, no desenvolvimento de produtos ou serviços, enquanto na Coréia do Sul - exemplo sempre citado entre os países de industrialização recente -, a participação chega a 75 mil.
O resultado é que a Coréia registra 1.500 patentes por ano, e o Brasil, só 56. Nos Estados Unidos, dos 960 mil cientistas e engenheiros que trabalham em P&D, 760 mil estão nas empresas (aproximadamente 80%). Já nos países que participam da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o dispêndio empresarial atinge 2/3 do investimento nacional e vem crescendo significativamente (chega a 11% ao ano na Finlândia, que ocupa o primeiro lugar no Índice de Avanço Tecnológico da ONU).
Mas é justo reconhecer que boa parte da iniciativa privada já demonstra consciência de que a inovação tecnológica é cada vez mais decisiva para que as empresas ganhem ou mantenham competitividade diante da globalização dos mercados. A propósito, uma pesquisa realizada pelo MCT e pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) junto a mil empresas, em 1997, revelou que 38% delas pretendiam investir, nos cinco anos subseqüentes, entre 2 e 5% de seu faturamento líquido em P&D, e 28% procurariam superar os 5%.
Muitas empresas - privadas, públicas ou mistas - investiram na formação de cientistas e geraram tecnologia própria. Cite-se o caso da Embraer, exemplo típico de boa parceria entre universidade e indústria, com resultados excepcionais: hoje é uma das maiores fabricantes de aviões a jato do mundo e líder nas exportações brasileiras de produtos tecnológicos, com faturamento anual próximo dos US$ 2 bilhões. Vale lembrar, também, a Petrobras, que desenvolveu uma avançada tecnologia de perfuração e prospecção de petróleo em plataformas submarinas, e a Embrapa, que, com seus 2 mil cientistas, tornou a agricultura nacional um empreendimento produtivo, com pesquisas na área de biotecnologia, técnicas de melhoramento genético e no cultivo de soja. Graças a esse trabalho, a soja e seus derivados rendem US$ 3 bilhões por ano em exportações 4.
O dado inquestionável, porém, é que a pesquisa científica continua sendo desenvolvida maciçamente nas universidades e nos institutos públicos. O sistema de ensino superior é de qualidade, embora atinja só 12% dos jovens entre 18 e 24 anos. Mas o pior problema está na base e é um dos fatores que pesaram na má classificação do Brasil no Índice de Avanço Tecnológico da ONU. O mais novo índice criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) relaciona 72 países em termos de criação e difusão de tecnologias e capacidade humana para participar nas inovações tecnológicas. Pelo baixo nível educacional dos trabalhadores, que freqüentam, em média, pouco mais de 5 anos de escola - quando a média, nos países melhor colocados, é de 12 anos -, restou ao Brasil o 43º lugar na lista (perde, na América Latina e Caribe, para Argentina, México, Chile, Trinidad e Tobago e Panamá).
Apesar de tudo, o país conta com excelentes cursos de pós-graduação, muitos de nível internacional, formando cerca de 5 mil doutores por ano. É fundamental que as empresas passem a incorporar essa massa crítica em atividades de P&D. Pois, se promover o desenvolvimento científico é um dever do Estado, incumbindo à universidade a geração e difusão de conhecimento científico, investir no desenvolvimento tecnológico é tarefa da empresa. Como resumem os pesquisadores e cientistas, falta aqui o principal parceiro.
Notas
1) Cf. os belos estudos de George Basalla (The evolution of technology, Cambridge, Cambridge University Press, 8a. ed., 1999) e de Lewis Wolpert (The unnatural nature of science, Londres, Faber & Faber, 1992).
2) A sugestão é de Carlos Vogt, diretor-executivo do Instituto Uniemp-Fórum Permanente das Relações Universidade-Empresa, de São Paulo, em "Os desafios da divulgação científica" (Newsletter, nº 21, julho/2001, Labjor-Unicamp.
3) Ver, a propósito, o livro de Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna, Milão, Feltrinelli, 6ª. ed., 1999.
4) Para esses dados, cf. os seguintes artigos de Carlos H. Brito Cruz, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp): "A verdadeira riqueza das nações" (Gazeta Mercantil, 16/08/2001); "Falta o ator mais importante" (Correio Braziliense, 15/04/2001) e "Boa ciência no Brasil" (Folha de S. Paulo, 22/02/2000).
Orlando Tambosi
Publicado originalmente na Revista Nexus (Florianópolis), outubro 2001, e Jornal da Ciência, da SBPC, em 21/01/2002.
Assinar:
Postagens (Atom)