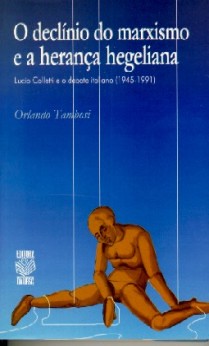Texto de Conferência apresentada pelo autor na Universidad Três de Febrero, em Buenos Aires, na noite de 26 de setembro de 2017.
MARXISMO E DIALÉTICA: UMA HERANÇA FATAL.
(Gramsci, Della Volpe e Colletti).
Orlando Tambosi
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o amável convite do Prof. Dr. Samuel Amaral, que, além de ter lido meu livro sobre a decadência do marxismo, me localizou em Florianópolis para esta palestra com os professores do Curso de Pós-graduação em História da Universidad Nacional Tres de Febrero.
Agradeço também às autoridades departamentais, demais professores e interessados aqui presentes.
Devo esclarecer que retorno ao tema passados quase 20 anos, uma vez que o livro foi publicado em 1999 em português, com tradução italiana lançada dois anos depois. Jamais tive oportunidade de discuti-lo em minha própria universidade e, até pelo contrário, a publicação me acarretou diversas inimizades por parte de colegas das ciências sociais e humanas.
Devo esclarecer, também, que o trabalho é resultante de uma tese de doutorado defendida na Unicamp em 1995, com o título O declínio do marxismo e a herança hegeliana. Lúcio Colletti e o debate italiano (1945-1991). O título da versão italiana foi mais preciso: Perché il marxismo ha fallito. Lucio Colletti e la storia di una grande illusione.
Esclareço, ainda, que o livro não trata de uma análise econômica, mas é uma leitura filosófico-epistemológica,com incidência, evidentemente, nos campos da política e da história, já que abordo o pensamento filosófico italiano num período amplo (do pós-guerra a 1991).
Prezados senhores, divido a minha exposição em três pontos:
- Gramsci e o historicismo italiano;
- Galvano Della Volpe e a tentativa de fundamentação de uma epistemologia materialista;
- Lúcio Colletti e as razões do fracasso do marxismo.
1- Gramsci e o historicismo italiano
Um dos fatos mais importantes da esfera cultural italiana no pós-fascismo, com a fundação da nova República, foi a retomada dos estudos marxistas. É então que começam a ser editados, ainda de forma esparsa, os Quaderni del carcere, de Antonio Gramsci, dentro de uma ofensiva político-cultural que daria ao então Partido Comunista Italiano (PCI) uma indiscutível hegemonia, nos decênios seguintes, no campo da cultura, que se estenderia da imprensa ao cinema, das artes visuais às cátedras universitárias.
Sob o comando de Palmiro Togliatti, o PCI se tornaria, na verdade, o grande herdeiro do historicismo de Benedetto Croce, uma herança que transparecia na própria definição gramsciana da “filosofia da práxis” como “historicismo absoluto, a mundanização, o pensamento absolutamente terrestre, um humanismo absoluto da História” (Declínio, p.22-3).
Mas o que era o historicismo para Gramsci, Togliatti e a cultura italiana?
A primeira coisa a observar é que essa questão nada tinha a ver com o historicismo alemão (de Dilthey, Rickert, Meinecke, entre outros). Este surge em polêmica com Hegel e a cultura romântica e sua visão do mundo histórico, ao passo que o “Historicismo Absoluto”, de Croce, se baseia exatamente na concepção romântica da História e na tese hegeliana de coincidência entre racional e real em todo processo histórico.
Para o historicismo alemão, era impossível reduzir a História à Razão. Já o historicismo italiano, via Croce, afirma que a racionalidade é imanente ao desenvolvimento histórico. Como observa Pietro Rossi (Benedetto Croce e lo storicismo assoluto, de 1957), o historicismo significou, na Itália, a fidelidade a determinados pressupostos do pensamento idealista: a concepção da História como desenvolvimento do Espírito; a subsunção da Natureza à História; e a elevação da historiografia a forma exclusiva do conhecimento (daí a identidade de filosofia e historiografia). O historicismo podia aparecer, assim, como o coroamento da filosofia moderna - uma sucessão de fases dialeticamente concatenadas que desemboca na obra de Fichte, Schelling e Hegel. Em outras palavras, ao idealismo pós-kantiano se junta a visão histórica romântica. O historicismo de inspiração idealista era O historicismo - e com isto se esquecia que o historicismo do século XX pressupunha, em verdade, a dissolução das formulações filosóficas da cultura romântica.
Resumindo, para a cultura italiana o historicismo significa sobretudo uma concepção da história - fundamentalmente de derivação hegeliana - que afirma a historicidade de todo o real, reduzindo, em consequência, todo conhecimento a conhecimento histórico. Esta é precisamente a posição crociana, indissociável de seu idealismo, que nega o caráter cognoscitivo das Ciências da Natureza - estas seriam apenas pragmáticas e utilitárias. Viriam daí também seu antipositivismo e o permanente elogio de Croce à dialética hegeliana.
“Grande bravura” - exalta-se o filósofo - “dizer não à lógica hegeliana em nome (...) ou da transcendência religiosa ou da lógica das ciências positivas ou das matemáticas, ou do sensacionismo, do empirismo, do intelectualismo, ou do dualismo, do agnosticismo” e de tantos outros semelhantes “pontos de vista inferiores” (Declínio, 26-7).
Situando num mesmo nível história, filosofia e política, o historicismo constitui, na realidade, uma das peculiaridades da cultura italiana. E é exatamente o Gramsci historicista, divulgado por Togliatti, que desponta nas décadas de 1940 e 50: o Gramsci que, nos Quaderni, mantém um diálogo à distância com Croce, sem renegar de todo o mestre. Grande parte dos jovens intelectuais, nesse período, repete um mesmo itinerário: “De Croce ao comunismo”. O PCI de Togliatti recruta persistentemente a intelectualidade cujo perfil Gramsci definira em sua teoria: “os autores de romance, de quadros, de filmes, de obras teatrais, de música, críticos de arte e de literatura, filósofos, historiadores” etc. (Declínio, 28).
Foi justamente o historicismo que permitiu ao PCI tornar-se um partido de massa; e, aos intelectuais a ele ligados, sobreviver sem grandes traumas à crise de 1956 (Relatório Kruschev e a denúncia dos crimes de Stálin). Luporini sintetiza com clareza aquele indimenticabile 1956: “No fundo, no partido italiano nós nos sentíamos como numa situação privilegiada, por sua aparente maior flexibilidade e a abertura crítica ou problemática, em relação à rigidez dos outros partidos, na área do comunismo internacional. Também isto mostrava-se ligado ao seu historicismo teórico, que parecia, em geral, tornar possível uma maior ou mais rápida historicização e, ao mesmo tempo, problematização do imediatamente acontecido (....). Mas no conjunto, hoje, à distância, as coisas me parecem muito diferentes. Parece-me que vivíamos (isto é, pensávamos e agíamos) como num intervalo (...) entre duas ortodoxias e, em última análise, entre dois dogmatismos, o stalinista e o historicista” (Declínio, 32, n).
Enfatiza o líder do PCI, num longo, mas elucidativo discurso (retrato perfeito do Gramsci historicista por ele divulgado a partir de então):
“Ele [Gramsci] compreendia que a nova cultura idealista italiana representava um passo adiante no desenvolvimento da nossa cultura nacional, como o hegelianismo havia representado um passo adiante no desenvolvimento da cultura filosófica européia em geral. Ele compreendia, portanto, que não era possível assumir uma atitude estritamente negativa em relação a esta nova corrente intelectual, mas (...) que devíamos executar (...) uma operação análoga à que Marx e Engels executaram ao seu tempo, quando, no confronto com as fórmulas hegelianas, fizeram o que eles próprios definiram como o avesso da dialética hegeliana, isto é, dos esquemas ideológicos abstratos construídos por Hegel, fizeram um guia concreto para compreender o desenvolvimento da dialética real que está nas coisas, que está no conflito de classes, que está na sociedade mesma. Ele compreendia que o historicismo idealista não estava à altura (...) de entender a realidade, exatamente porque lhe faltava esta direta compreensão da dialética que está nas coisas e que existe na própria realidade histórica, e pensava que cabia às classes operárias, aos intelectuais de vanguarda, cumprir em relação a esta corrente filosófico-cultural a mesma obra de renovação e inversão, de modo que nós, herdeiros de tudo aquilo que existe de positivo e de progressista no desenvolvimento da cultura do nosso país, pudéssemos levar adiante, sobre estas bases, também o nosso pensamento marxista”. (P. Togliatti, Discorso su Gramsci nei giorni della liberazione, 1945).
Podemos observar aqui que o panorama traçado por Togliatti em 1945, ainda que de forma simplificada e popular, retoma as análises da filosofia de Croce que o próprio Gramsci fizera nos Quaderni. Num escrito posterior, de 1958, Togliatti fará uma síntese do que considera central na obra gramsciana (e lá vem Croce!): “a historicidade absoluta da realidade social e política”. O marxismo é definido então como “historicismo absoluto, a única doutrina capaz de guiar a compreensão de todo o movimento da História e ao domínio desse movimento por parte dos homens associados. Neste âmbito, serão resolvidos os temas da liberdade e da necessidade” (Il leninismo nel pensiero e nell’azione di A. Gramsci).
Mas era necessário fazer as contas com Croce, como já advertira o próprio Gramsci. Era necessário não só fazer um inventário da herança da filosofia clássica alemã, mas torná-la viva: “para nós, italianos, ser herdeiros da filosofia clássica alemã significa ser herdeiros da filosofia crociana, que representa o momento mundial atual da filosofia clássica alemã” (Quaderni, p. 1233-34).
O fato é que, para Gramsci, a filosofia da práxis, embora sendo uma concepção historicista da realidade, é livre “de todo resíduo de transcendência e da teologia também na sua última encarnação especulativa”; já em Croce “o historicismo idealista (...) permanece ainda na fase teológico-especulativa” (Quaderni, 1226).
Para Gramsci, Croce domesticava a dialética hegeliana dos opostos, tornando-a dialética dos distintos. Pressupõe-se “mecanicamente”, no processo dialético, que a tese seja “conservada” na antítese, para não destruir o próprio processo. Ora, a concepção de Hegel não permite tais mutilações, diz Gramsci: “na História real a antítese tende a destruir a tese, a síntese será uma superação, mas sem que se possa a priori estabelecer o que da tese será ‘conservado’ na síntese, sem que se possa a priori ‘medir’ os golpes, como num ‘ringue’ convencionalmente regulamentado”.
Para concluir este tópico, convém perguntar: como interpretar o historicismo de Gramsci? Este problema - jamais resolvido - preocupou os intelectuais comunistas já partir da publicação do Quaderni, por volta de 1948. Para Luporini, a questão essencial é a seguinte: o historicismo parecia “a única interpretação do marxismo perfeitamente adequada e correspondente à política do partido, à sua linha estratégica” (40). Afinal, eram os tempos de Togliatti, que, como se sabe, privilegiou a interpretação de Gramsci como historicista. Delineava-se aqui a polêmica anti-historicista que agitaria os intelectuais italianos por quase um decênio (de 1954 a 1962).
2. Della Volpe e a tentativa de fundamentação de uma epistemologia materialista.
A escola de Galvano Della Volpe (que não foi propriamente uma escola) despontou justamente em contraposição ao historicismo. Reuniu alunos como Mário Rossi, Nicolao Merker e Lúcio Colletti, seu principal expoente, que acabou se separando radicalmente da temática dellavolpiana em razão da dialética.
Tanto para Della Volpe quanto para Colletti, é inquestionável a relação de Gramsci com o idealismo hegeliano - filtrado pela filosofia de Croce. Para Croce e Gramsci, a natureza parece desaparecer na História, embora Gramsci se pretenda realista, absolutamente “terrestre”, não especulativo. O fato é que Gramsci atenua o componente naturalista do marxismo. Seu interesse é dirigido à objetividade histórico-social. Prevalece o lado humano, antropocêntrico. “Objetivo”, para Gramsci, “significa sempre humanamente objetivo”. “Sem o homem, que significaria a realidade do universo? Toda ciência é ligada (...) à atividade do homem. Sem a a atividade do homem, criadora de todos os valores, inclusive científicos, que seria a ‘objetividade’? Um caos, isto é, nada, o vazio” (Quaderni, 1415-1457).
Contra essa concepção se volta Galvano Della Volpe, que tentará desenvolver uma epistemologia materialista, contrária à tradição historicista e idealista. Ele reorientaria a pesquisa marxista, priorizando - ao invés dos problemas locais, provincianos, exclusivamente relativos à Itália - as questões de importância geral ainda não resolvidas. Sua obra tem abrangência vastíssima: da metodologia à política, da ética à estética.
Atenho-me aqui à epistemologia de Della Volpe. Dois temas são fundamentais para a “filosofia-ciência” por ele pretendida: a crítica do apriorismo lógico e a teoria das abstrações determinadas, isto é, científicas. Em termos de teoria do conhecimento e de epistemologia, o que Della Volpe absorve de Marx está no texto juvenil de 1843: a Crítica da filosofia hegeliana do Direito Público, que só seria publicada praticamente 100 anos depois (1949, na Itália, trad. do próprio filósofo). O que interessa a Della Volpe está justamente nesse texto: a denúncia da lógica dialética de Hegel como “misticismo lógico”; e a crítica radical da confusão entre pensamento e ser, ideia e realidade.
Isto permitiu a Della Volpe duas coisas: quebrar, romper a identidade de pensamento e ser, de modo que o pensamento fosse somente função cognoscitiva e não também a realidade. Em segundo lugar, que o elemento sensível não só é diferente do elemento lógico, mas subsiste por si (ao invés de ser um momento da Ideia) e é positivo (contra a concepção negativa ou platônica do real). (Coll., Pagine, 78-9).
Em resumo, de um lado temos a razão ou pensamento lógico; do outro, o material da experiência: reciprocamente unidos, mas com funções diferentes, num círculo indutivo-dedutivo (C-A-C): do Concreto ao Abstrato e do Abstrato ao Concreto. Isto, para Della Volpe, condensava a lógica experimental moderna.
Separando nitidamente Marx de Hegel, o pensador italiano vai dizer que Marx elaborou, desde os primeiros escritos, uma “dialética científica” da economia e das “disciplinas morais” em geral: dialética de abstrações determinadas, e não a dialética mistificada, especulativa, de abstrações indeterminadas. Fundado no princípio clássico-aristotélico de não-contradição, o método marxiano não é um método dialético no sentido hegeliano. As abstrações determinadas são contrapostas ao apriorismo lógico.
Ressalto uma vez mais: com a “dialética científica”, Marx substitui o círculo Abstrato-Concreto-Abstrato (A-C-A) da dialética idealista e suas abstrações indeterminadas pelo círculo Concreto-Abstrato-Concreto (C-A-C), que permite hipóteses. Em outras palavras, passa-se de afirmações a priori, isto é, independentes da experiência, para previsões experimentais. Somente este método pode ser chamado de científico. Assim, o método de Marx - que parte de uma crítica radical da filosofia especulativa de Hegel - estaria dentro da tradição do pensamento ocidental que, de Aristóteles a Galilei, segue os princípios das ciências experimentais modernas. (O Declínio, 69-71).
Eis, segundo Della Volpe, o galileísmo moral de Marx, cujo método difere do idealismo e suas hipóstases. A abstração determinada, método da ciência econômica, é também o método das “ciências filosóficas”: o pressuposto de ambas é a rejeição - materialista - do a priori. Estas ciências são, portanto, sociologia materialista.
Mas há um problema fundamental na obra dellavolpiana. Embora refutasse a dialética idealista de Hegel, o filósofo italiano supôs que poderia existir outra dialética, que ele chamou de científica. Esta devia tratar das “contradições reais” do capitalismo. Ora, não se tem notícia, até hoje, de que alguma ciência se valha da dialética. Nem de que existam “contradições reais”.
Aqui começa a crítica de Lúcio Colletti, que tinha sido discípulo e assistente de Della Volpe na universidade.
3. Lucio Colletti e as razões do fracasso do marxismo
Neste último tópico, parto de um ponto: Marx e o marxismo sempre buscaram construir uma análise científica da sociedade capitalista. O Capital, de fato, não se apresenta como obra filosófica, mas como descrição científica das “leis do movimento” do modo de produção capitalista, leis que devem ser tratadas com a mesma objetividade com que o físico trata as “leis da natureza”. No entanto, O Capital é, ao mesmo tempo, obra dialética, como já diz seu subtítulo (Crítica da economia política). Isto significa que a luta de classes e os conflitos de interesse são ali interpretados não como oposições, mas como contradições do capitalismo. A contradição, portanto, é objetiva, real, isto é, a realidade é autocontraditória.
Ocorre que não se faz ciência com dialética. O método dialético, pelo menos na acepção moderna, só funciona dentro do sistema idealista de Hegel, para o qual - lembremos novamente - o Real é o Racional, e tudo se resolve na Ideia. Em poucas palavras, a assunção da dialética pelo marxismo revelou-se uma herança fatal para seu projeto científico. Assumir a dialética, como se verá, implica assumir também uma visão finalística da História, ou seja, conceber a História como curso que tende a uma meta prefigurada, a um ponto de chegada fixado a priori. O método dialético afasta o marxismo da ciência, enredando-o no nebuloso campo da filosofia da história.
O problema é que o marxismo fala continuamente em contradições tanto na natureza quanto na sociedade. Ora, a afirmação de que a realidade é intrinsecamente contraditória implica: 1) a rejeição do princípio clássico-aristotélico de não-contradição, fundamental ao conhecimento científico e ao materialismo (ou, melhor dizendo, realismo); 2) a suposição de que somente a dialética, isto é, a lógica da contradição, é adequada ao entendimento dessa realidade contraditória.
Em favor de sua tese de que não existem contradições reais, ou seja, de que a realidade não é autocontraditória, Colletti nomeia, além de Kant e de Trendelenburg, N. Hartmann e alguns lógicos contemporâneos, como K. Ajdukiewicz e I. Copi
Hartmann: “A contradição pertence, essencialmente, à esfera dos pensamentos e dos conceitos. Para ‘contradizer’ é preciso ‘dizer’. Conceitos e juízos podem contradizer-se (....). Mas as coisas, os acontecimentos, as relações reais - em rigor - não o podem. (....) O que se chama, muito impropriamente, contradição na vida e na realidade, não é absolutamente uma contradição, mas (...) um conflito. As forças, as potências, as tendências, as leis heterogêneas chocam-se violentamente em muitos, senão em todos os campos da realidade. (...). Mas isso não se parece em nada com a contradição, porque o conflito não opõe jamais A e não-A, isto é, um termo positivo a um termo negativo: opõe, isto sim, sempre um positivo a outro positivo. Em termos de lógica, esta relação é uma relação de contrários, em vez de contraditórios”. (Declínio, 216-7).
Copi, por sua vez, em sua conhecida Introdução à lógica, cita alguns exemplos: “O proprietário privado de uma grande fábrica, que requer milhares de operários que trabalham em conjunto para o seu funcionamento, pode opor-se ao sindicato e ser, por seu turno, combatido por este; (...) mas nem o proprietário nem o sindicato são negação ou o contraditório do outro.” Assim como Kant e Hartmann, portanto, também Copi considera a contradição somente lógica. Na realidade (natural ou social) só existem conflitos, oposições.
Por último, cito também Ajdukiewicz, para o qual “o princípio de contradição exclui que duas proposições contraditórias-opostas possam ser verdadeiras simultaneamente. Com isso, o princípio exclui que na realidade possam subsistir estados-de-coisas contraditórios, e que, portanto, algo seja assim e ao mesmo tempo não seja assim”. Exemplos: “A relação de ação e reação, de efeito e contra-efeito, não é igual à relação entre ser e não-ser de uma situação de fato, entre ser e não-ser de alguma coisa; a reação não é a mesma coisa que o não-ser da ação, e o contra-efeito não é a mesma coisa que o não-ser do efeito; ao contrário: se a ação ou o efeito é uma força, também a reação ou o contra-efeito é uma força e não simplesmente o não-ser dessa força”. (Declínio, 218).
Compreende-se, assim, a árdua tarefa que o marxismo se impôs: a vã tentativa de unir materialismo e dialética, dois princípios incomponíveis e inconciliáveis. Dito de outro modo, Marx e o marxismo se pretendem materialistas, mas seguem o método idealista de Hegel, para quem todas as coisas são contraditórias em si mesmas. Daí a necessidade dessa nova lógica, que Hegel tanto se orgulha de haver criado ao se desvencilhar da lógica clássica, prisioneira do princípio de não-contradição.
Não é o caso, aqui, de entrar profundamente na lógica hegeliana. Para o nosso tema, é suficiente observar que a posição de Hegel significa um retrocesso em relação a Kant, que já havia percebido a diferença entre oposição real e oposição lógica. A diferença entre os dois tipos de oposição reside exatamente na presença ou não da contradição: a oposição lógica é por contradição, a oposição real é sem contradição. Há negação em ambas as oposições, mas de gênero inteiramente diverso. Na contradição, os opostos são negativos em si mesmos (um é o não do outro), ao passo que nos opostos reais um não nega o que é afirmado pelo outro: são positivos ambos os predicados, A e B (ou seja, um não é o contraditório do outro).
Exemplos de oposição real: A - B, Preto/Branco, Subir/Descer, Avançar/Recuar, Dia/Noite etc. Ambos os pólos da oposição são positivos. Não é violado o princípio de não-contradição, que reza: “é impossível que o mesmo atributo, ao mesmo tempo, pertença e não pertença ao mesmo objeto e na mesma relação”; ou, ainda: “é impossível supor que a mesma coisa seja e não seja”.
No caso da oposição lógica (ou dialética), cujo par é A - não-A, um oposto não pode estar sem o outro. Não-A é apenas o negativo de A: em si e por si, não é nada. Para se atribuir algum significado a não-A, é necessário antes saber o que é A, o oposto que é negado; mas este, por sua vez, é a negação de não-A. Assim, os dois pólos da oposição contraditória, por si, não são nada: são ambos negativos, e um implica a relação com o outro, assim como um nega o outro no interior da relação (unidade dos opostos).
O movimento dialético, portanto, é sempre guiado pela negação. No caso de Hegel, o ponto de partida é a Ideia, que é a afirmação ou unidade originária, que depois se cinde, se separa, gerando a sua própria negação. É assim que surge a contradição: afirmação e negação se confrontam e a contradição é, enfim, resolvida (“superada”) através de “negação da negação”, isto é, pelo surgimento de um terceiro (um novo conceito), que restabelece, num nível mais alto, a unidade de que se partiu. E assim sucessivamente, posto que o processo reinicia-se tão logo concluído.
O andamento da dialética foi admiravelmente bem compreendido por Marx, que identifica precisamente na contradição o motor de todo o processo:
Uma vez que a razão chegue a se por como tese, esta tese, este pensamento, oposto a si mesmo, desdobra-se em dois pensamentos contraditórios, o positivo e o negativo, o sim e o não. A luta desses dois elementos antagonísticos, contidos na antítese, constitui o movimento dialético. O sim torna-se não, e o não torna-se ao mesmo tempo não e sim: portanto, os contrários se equilibram, neutralizam-se, paralisam-se. A fusão desses dois pensamentos contraditórios constitui um pensamento novo, que é a sua síntese. Este pensamento desenvolve-se ainda em dois pensamentos contraditórios que se fundem, por sua vez, em uma nova síntese. Deste trabalho de parto nasce um grupo de pensamentos. Este grupo de pensamentos segue o mesmo movimento dialético de uma categoria simples, e tem por antítese um grupo contraditório. Desses dois grupos de pensamentos nasce um novo grupo de pensamentos que é a sua síntese. (A cruzada contra as ciências, p. 102).
Colletti demonstrou, a partir de uma profunda análise dos textos marxianos, que na obra de Marx os pares trabalho concreto/trabalho abstrato, trabalho privado/trabalho social, valor de uso/valor de troca, mercadoria/dinheiro, trabalho assalariado/capital, não eram simples oposições reais (sem contradição), mas oposições contraditórias. Todas as contradições capitalistas eram de fato para Marx o desenvolvimento da contradição interna à mercadoria entre valor de uso e valor, entre trabalho útil ou individual e trabalho abstrato. A contradição interna à mercadoria se exterioriza na contradição entre mercadoria e dinheiro; a contradição entre mercadoria e dinheiro se desenvolve, por sua vez, na contradição entre capital e trabalho assalariado etc.
Assumindo a realidade como contraditória, Marx introjeta o lógico no ontológico, isto é, seguindo as premissas lógico-filosóficas de Hegel, transfere as contradições lógicas do pensamento para o ser. Assim, forças da natureza ou da sociedade são interpretadas como contradições lógicas, como já percebera Kelsen. A conclusão a que chega Colletti, de modo autônomo e original, é a mesma indicada pelo jurista alemão. Também para Colletti o marxismo cometia um “trágico sincretismo metodológico”, uma confusão entre materialismo (fundado no princípio de não-contradição) e dialética hegeliana (fundada na objetividade real da contradição). Neste quadro, Colletti explicava a tese da polarização da sociedade em duas classes, a extinção do Estado etc.
Todos esses elementos assegurariam a realização do Fim ou Valor da história (uma vez superadas as contradições, que tendiam inevitavelmente à sua resolução), o salto do reino da necessidade ao reino da liberdade - e, portanto, não somente de uma formação social a outra, mas de uma inferior a uma superior, segundo o bem conhecido desígnio da filosofia da história de Hegel.
Com este desfecho, Colletti não negava a existência de lutas, conflitos, confrontos - até violentos - na realidade, tanto histórica quanto natural. Mas estas são, efetivamente, oposições objetivas, reais - que dispensam o recurso à dialética.
A esta altura, alguém poderia objetar, talvez, que Marx e o marxismo teriam cometido apenas uma impropriedade lógica, designando como contradições o que deveria ser chamado, mais precisamente, de oposições reais. Não seria isso tudo um simples jogo de palavras? Ocorre que o erro não é apenas de forma: não se trata de algo meramente lógico. Quando Marx fala de “contradições do capitalismo”, ele constrói essas antíteses (quanto ao seu conteúdo e à sua estrutura) de modo que possam ser tratadas dialeticamente. Exemplo típico é a oposição entre trabalho assalariado e capital, em que este último é concebido como a objetivação alienada do trabalho humano, de maneira tal que se torna independente ou estranho em relação ao seu criador.
Tem razão Colletti ao afirmar que o tratamento dialético dado por Marx à sua obra “implica que - sob a aparência da explicação causal-científica - o curso real proceda como um desenvolvimento finalístico [...], como é necessário que seja o processo dialético”. Rompe-se assim a separação de fatos e valores estabelecida pelas ciências modernas. A História é chamada a realizar um Valor: o dever-ser já está inscrito no “ser”. Tanto quanto Hegel, Marx concebe o processo histórico como contínuo devir, impulsionado constantemente pela negação ou contradição dialética, progredindo de um estado inferior a um estador superior, até a realização um valor absoluto, que é a meta do processo histórico: a sociedade sem classes, a emancipação completa da humanidade, o comunismo.
Concluo esta exposição - que já se tornou demasiado longa - com a metáfora construída por Norberto Bobbio, outro filósofo italiano, que compara a História a um labirinto. É o contrário do que pensavam Hegel e Marx. É o desfecho, também, da longa pesquisa de Lúcio Colletti, crítico do finalismo marxista:
A história é um labirinto. Acreditamos saber que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não havendo ninguém de lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la nós mesmos. O que o labirinto ensina não é onde está a saída, mas quais são os caminhos que não levam a lugar algum (N. Bobbio, 1966).
REFERÊNCIAS
COLLETTI, L. Fine della filosofia e altri saggi. Roma, Ideazione, 1996.
_____. Lezioni tedesche. Con Kant, alla ricerca di un’etica laica. Roma, Liberal Edizione, 2008.
TAMBOSI. O. O declínio do marxismo e a herança hegeliana. Lúcio Colletti e o debate italiano (1945-1991). Florianópolis, Edufsc, 1999.
_____. A cruzada contra as ciências. Quem tem medo do conhecimento? Florianópolis, Edufsc, 2010.
OBS.: todas as citações são retiradas da bibliografia acima mencionada.